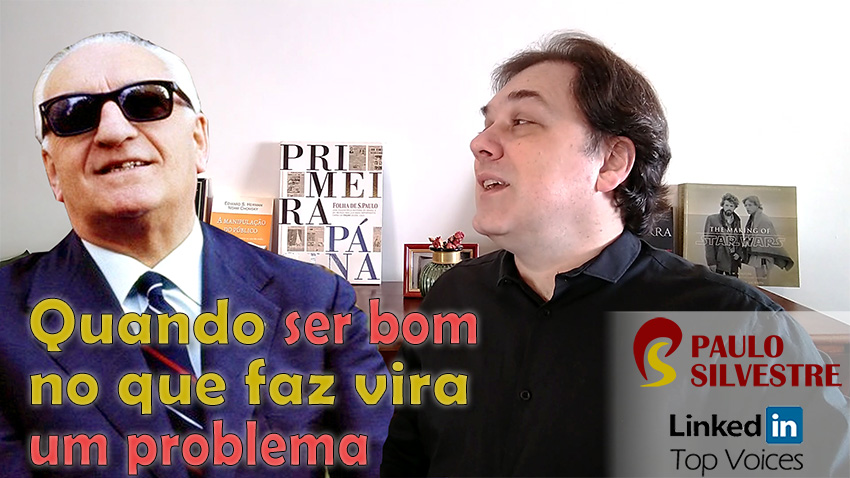Estamos começando não apenas um novo ano, mas uma nova década
Muita gente acha que pode ser uma reedição dos “Loucos Anos 20”, como ficaram conhecidos aqueles que aconteceram há cem anos. Depois de uma pandemia e uma guerra que devastaram o mundo, aquela década foi marcada por grandes avanços culturais, artísticos e científicos. Foi um período de alegria, com muitas festas, muita liberação e muito sexo, quase uma jornada hedonista!
Agora estamos passando por uma pandemia, que já matou quase 2 milhões de pessoas no mundo, 200 mil só no Brasil, e continua implacável. A Covid-19 colocou o mundo de joelhos, provocando muita dor, de diferentes maneiras, mudando nossas vidas.
Será que, quando ela passar, viveremos novamente um período de euforia desmedida? O que podemos aprender com os “Loucos Anos 20” da época do charleston e do jazz?
Veja esse artigo em vídeo:
Os “Loucos Anos 20” –ou os “Roaring Twenties”, como eram chamados nos Estados Unidos– foram uma reação, quase uma libertação das tristezas e das restrições causadas pela Gripe Espanhola e pela Primeira Guerra Mundial.
Na Europa, especialmente Paris (que virou o centro do mundo), em Berlim e em Londres, a alta sociedade e os intelectuais se misturavam ao som do can-can nos cabarés e outros ambientes efervescentes em ideias modernistas. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o charleston animava festas imensas, regadas a bebida, drogas e sexo. Isso mesmo em um país onde vigorava a Lei Seca, que proibia a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas.
- Siga-me no LinkedIn
- Siga-me no Instagram
- Siga-me no YouTube
- Inscreva-se no meu podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Soundcloud
Foi nessa época também que surgiu o jazz. Com seus improvisos e suas influências africanas, nasceu em Nova Orleans e ganhou a América, influenciando a música ocidental.
Tudo parecia possível graças à tecnologia, especialmente os automóveis, as imagens em movimento e o rádio. Houve grande popularização do cinema, cuja grande estrela da época foi Charlie Chaplin. Os filmes deixaram de ser um interesse para aficionados para ganhar as massas e levar milhões às salas de exibição. Eles ainda eram em preto e branco e mudos, por isso as salas tinham espaço para uma pequena orquestra ou pelo menos um piano. Os desenhos animados também se popularizaram, com O Gato Felix sendo lançado em 1919, e Mickey Mouse, no curta “Steamboat Willie”, em 1928.
Os “Loucos Anos 20” também foram um grande momento de avanço para as mulheres. Elas deixaram seus espartilhos para trás e passaram a usar vestidos decotados e na altura dos joelhos. Com cabelos curtos, lábios vermelhos, pálpebras escuras, lançaram um novo estilo, que ficou conhecido como “melindrosas” –ou “flappers” em inglês.
A sua libertação foi muito além! Passaram a fumar em público, a dirigir e a ir à praia de maiô inteiriço, além de conversar livremente sobre sexo, atitudes que escandalizaram os conservadores da época. Em alguns países, como os Estados Unidos, foi quando as mulheres também começaram a votar.
Os novos “Loucos Anos 20”
Será mesmo que caminharemos para uma nova versão dos “Loucos Anos 20”, quando a epidemia estiver controlada e a economia do mundo recuperada?
Alguns especialistas acreditam que sim. Nicholas Christakis, professor na Universidade de Yale (EUA) é um deles. Ele lançou recentemente o livro “A Flecha de Apolo”, em que debate justamente a vida durante a pandemia e o que pode vir depois dela.
Segundo o pesquisador, essa não é a primeira grande pandemia que a humanidade tem que enfrentar, apenas a primeira que nós estamos vivendo. Ele explica que, durante as epidemias, verifica-se o aumento na religiosidade, as pessoas economizam dinheiro e ficam avessas ao risco. Quando a ameaça acaba, há uma reação natural de resgate do que foi perdido, com todo mundo buscando experiências sociais.
Christakis afirma que isso vai acontecer de novo agora com a Covid-19. Com os países iniciando a vacinação em massa em 2021, a doença deve estar controlada no ano que vem, e a economia recuperada, segundo ele, em 2024, quando teríamos os “Loucos Anos 20” do século XXI.
Naturalmente o mundo de hoje é muito diferente do que era há um século. E, dentro do que estamos discutindo aqui, as redes sociais têm um papel determinante, agindo como um catalizador.
Há cem anos, os meios de comunicação tiveram papel fundamental para disseminar aquele estilo de vida frenético, principalmente o rádio, os jornais e o cinema. Agora, com o meio digital, tudo acontece de maneira mais rápida e mais intensa.
Muita gente, aliás, parece já estar no espírito dos “Loucos Anos 20”.
A atual pandemia é muito menos devastadora que a Gripe Espanhola, que durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Estima-se que o vírus H1N1 tenha infectado, naqueles três anos, 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época.
Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram vítimas dele. Os números mais conservadores são de 17 milhões, mas a cifra poder ter chegado a incríveis 100 milhões de mortos. Até o presidente brasileiro da época, Rodrigues Alves, pegou a doença e morreu.
Agora, apesar de a Covid-19 ter travado o mundo, a situação é menos grave, graças aos avanços da ciência e do papel dos meios de comunicação em conscientizar as pessoas. Vale dizer ainda que a tecnologia digital diminuiu –e muito– os estragos na economia, pois muitos negócios continuaram funcionando, mesmo com o distanciamento social.
Também não tivemos recentemente uma guerra absurdamente devastadora, com a Primeira Guerra Mundial, que durou de julho de 1914 a novembro de 1918., matando quase 18 milhões de pessoas, entre civis e militares. Por outro lado, temos a violência disseminada em nossas cidades, deixando os cidadãos em constante estado de alerta.
Não é de se estanhar, portanto, a grande euforia que sucedeu à peste e à guerra, com grandes avanços na cultura, na ciência e nos costumes do século passado.
Apenas para acrescentar alguns feitos além do que já foi dito, na medicina, o médico escocês Alexander Fleming descobriu, em 1928, a penicilina, inaugurando a era dos antibióticos, que salvam incontáveis vidas desde então. O psiquiatra austríaco Sigmund Freud lançou as bases da psicanálise.
Surgiram também os movimentos artísticos, como o dadaísmo, de Marcel Duchamp e, o surrealismo, de Salvador Dalí. Também floresceram, nesses anos, grandes nomes como Joan Miró e Pablo Picasso. No Brasil, em 1922, aconteceu a Semana de Arte Moderna, que levou ao Theatro Municipal de São Paulo artistas plásticos, arquitetos, escritores, compositores e intérpretes, os quais foram recebidos, ao mesmo tempo, com aplausos e vaias.
Aprendendo com os erros
Mas nem tudo foram flores. Precisamos aprender com o que deu errado, para não repetir um dos períodos mais negros da humanidade, que sucedeu essa época dourada.
A euforia desmedida terminou na chamada “Grande Depressão”. No final de 1929, os Estados Unidos entraram e profunda crise econômica, com a “quebra” da sua Bolsa de Valores, o que provocou inúmeras falências, desemprego gigantesco e muita miséria.
A reboque disso, houve um aumento da intolerância e da xenofobia, além de uma “caça às bruxas” de movimentos conservadores. Isso culminou com o surgimento da Ku Klux Klan, organização racista que pregava a supremacia de brancos e protestantes.
Na Europa, a crise abriu o caminho para o surgimento de aventureiros políticos nacionalistas, que criaram Estados totalitários e ultraconservadores. Seus maiores expoentes foram o nazismo alemão, liderado por Adolf Hitler, e o fascismo italiano, de Benito Mussolini. E, como se sabe, isso tudo deu na Segunda Guerra Mundial, o conflito mais sangrento da história.
Portanto, sim, é possível que estejamos prestar a entrar em novos “Loucos Anos 20”. Talvez mereçamos mesmo essa alegria, depois de tanto sofrimento.
Mas ainda não chegamos lá: temos um caminho a seguir. A pandemia está longe de acabar, especialmente aqui no Brasil, onde sequer começamos a vacinação.
Há uma poesia do genial Carlos Drummond de Andrade, que é muito apropriada a isso tudo. Ela se chama “Receita de Ano Novo”, e termina com a seguinte estrofe:
“Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.”
Portanto, vamos gozar dos nossos “Loucos Anos 20”. Mas temos que, antes, fazer por merecer isso.