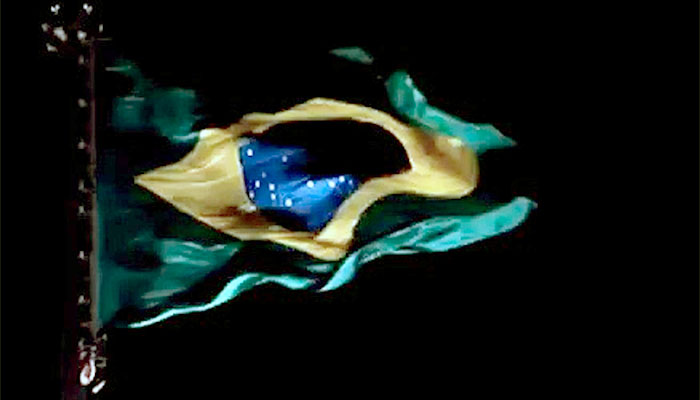Quanto tempo é necessário para se criar um herói?
Na sexta, comemoramos o Dia de Tiradentes. Aproveitamos o feriado em nome do maior herói da história do país, mas são pouquíssimos os brasileiros que sabem qualquer coisa sobre ele, além de uma história rasa e totalmente fantasiosa que aprendem na escola.
A sua imagem amplamente difundida foi criada por positivistas no momento da fundação da República. Em um país carente de heróis, precisavam de uma figura para personificar os ideais republicanos. Isso foi conseguido com um discurso único e ufanista sobre um homem esquecido durante todo o Império. A imprensa e o sistema educacional foram os veículos desse processo, que levou décadas para se consolidar.
Hoje, talvez isso acontecesse em poucos meses, algumas semanas até. Os ideólogos modernos fazem isso com o apoio das redes sociais, capazes de criar mitos e de destruir reputações consolidadas com incrível eficiência. A ideia simples dá lugar à disseminação ampla e orquestrada de uma enxurrada de informações que permitem a construção de ideias que se enraízam na mente de grande parte da população.
O Brasil está em pleno debate sobre a responsabilidade das redes sociais no processo de desinformação, que vem carcomendo a sociedade. Nessa semana, deve ser votado na Câmara dos Deputados o chamado “Projeto de Lei das Fake News”, que visa disciplinar o tema. Mas um grupo de mais de cem deputados, com o apoio das big techs, tenta impedir essa votação.
Veja esse artigo em vídeo:
É de se perguntar por que a resistência a esse projeto de lei, e como tanta gente compra essa ideia. De certa forma, a resposta é justamente o motivo que faz a legislação tão necessária: a capacidade de alguns grupos de disseminar facilmente informações falsas ou distorcidas para atingirem seus objetivos. Esse mecanismo sempre existiu, mas ganhou uma força descomunal com as redes sociais.
Isso nos remete de novo a Tiradentes. A imagem que nos vem à mente é a de um homem de barbas e cabelos longos, junto ao cadafalso. Mas Joaquim José da Silva Xavier, nome do herói, era um alferes e, como militar, o máximo que se permitia era um discreto bigode. Na prisão em que passou seus últimos três anos, era obrigado a raspar o cabelo e a barba, para se evitar piolhos.
- Assine gratuitamente minha newsletter sobre experiência do cliente, mídia cultura e transformação digital
- Inscreva-se no meu podcast (escolha a plataforma): Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Soundcloud
Todas as representações conhecidas de Tiradentes são criações livres de artistas que nunca o viram. A mais famosa delas, com longa barba e cabeleira, surgiu sob medida para remeter à imagem de Jesus Cristo, reforçando o aspecto messiânico do personagem que se desejava criar. Ironicamente a própria imagem dominante de Cristo, com um aspecto e vestes europeias da Idade Média, não deve representar em nada um homem que nasceu e viveu no Oriente Médio há 2.000 anos, sendo ela própria fruto de manipulação.
A apresentação de Tiradentes como líder da Inconfidência Mineira tampouco faz jus aos fatos. Ele foi o único enforcado do grupo não por ser uma liderança, mas por ser o “menos rico” de todos e o único que confessou a participação, servindo de exemplo à população. Seus companheiros endinheirados foram condenados ao exílio. De qualquer forma, seu martírio caiu como uma luva para a construção de sua imagem heroica.
Nos dias atuais, ninguém precisa morrer para se tornar um símbolo nacional. Basta saber como usar as redes sociais para captar as insatisfações da população e construir narrativas eficientes que o apresentem como a solução para essas mazelas.
“Libertas quæ sera tamen”
Podemos argumentar que o texto “Libertas quæ sera tamen”, tradicionalmente traduzido como “Liberdade ainda que tardia”, nunca esteve tão atual, graças ao debate em torno da responsabilidade das redes sociais pela fake news. A frase em latim foi proposta pelos inconfidentes para a bandeira da república que idealizaram no Brasil do final do século XVIII. Hoje ela faz parte da bandeira do Estado de Minas Gerais.
Aqueles que se opõem à regulamentação das redes sociais argumentem justamente que ela cercearia a liberdade de expressão, abrindo caminho para todo tipo de censura. Como muitos processos eficientes de desinformação, a ideia se constrói sobre argumentos verdadeiros e até desejáveis (no caso, a liberdade), mas colocados de maneira maliciosamente distorcida, para convencer grande parte da população a apoiar os interesses de um grupo.
De fato, o grande problema do projeto de lei é não definir, de maneira inequívoca, o que são fake news, o que pode abrir brechas para quem se beneficia delas. Por outro lado, reconheço a dificuldade de criar uma regra definitiva para tal, recaindo sobre a Justiça arbitrar casos duvidosos.
Outro ponto questionável do projeto é garantir a imunidade parlamentar no meio digital. Não é segredo algum que, entre os maiores produtores, disseminadores e beneficiários da desinformação, estão muitos políticos. Isso pode blindar essa categoria para que continuem abusando desse expediente.
Apesar disso tudo, o projeto avança em um ponto essencial, que é a responsabilização das redes sociais pelo que se publica em suas páginas. Se isso já era grave, ficou explícito com a explosão de ataques a escolas, incentivados por publicações no meio digital.
As plataformas devem bloquear conteúdos indubitavelmente criminosos. Para caso de falsos positivos, devem oferecer mecanismos de contestação. Em conteúdos dúbios, a Justiça continuará sendo acionada para decisões. O que se exige dessas empresas é celeridade e transparência no processo, algo que elas não oferecem hoje.
Não se trata, portanto, de ameaça à liberdade ou criação de um mecanismo de censura. Todos podem continuar dizendo o que quiserem nas redes sociais, sendo penalizados apenas quando infringirem alguma lei, como, por exemplo, em casos de calúnia ou difamação. E esses crimes já eram definidos muito antes desse debate.
As empresas das redes sociais não podem continuar isentas de um problema que nasceu e continua existindo graças a recursos que elas criaram, por mais que não fosse esse seu objetivo. Não se deseja cercear liberdades ou banir plataformas, e sim trazê-las para o centro dos esforços de solução dessa crise.
Nosso papel, como cidadãos, é parar de acreditar na barba falsa de Tiradentes e buscar fatos confiáveis para nossa tomada de decisões. Ninguém está isento dessa responsabilidade, nem das consequências de usos abusivos das plataformas digitais.