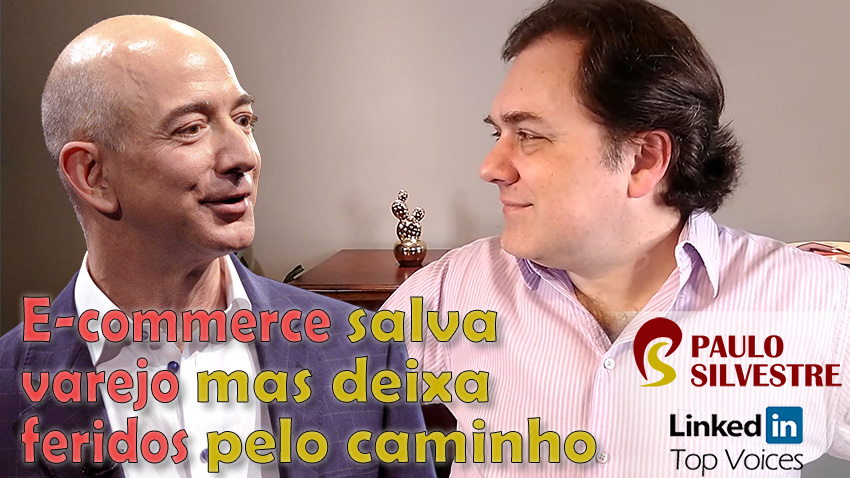De um lado, “unicórnios”, big techs e gigantes do varejo digital demitem sem parar. Do outro, livrarias físicas, para muitos condenadas, mostram sinais de um inusitado ressurgimento. Naturalmente não são todas, mas o fato de algumas estarem com esse vigor merece uma análise. Afinal a raiz desse sucesso pode ser replicado em outros negócios: oferecer uma boa experiência ao cliente e uma administração responsável.
O cenário do primeiro grupo é desolador. Os demitidos nas empresas de tecnologia nos últimos 12 meses giram em torno de 100 mil em todo mundo, inclusive no Brasil. Entre as causas, acabou o “dinheiro fácil” de investidores, usado para crescer rapidamente: a crise global moveu esses recursos para negócios mais estáveis. Há também um realinhamento após volumosas contratações durante o distanciamento social, para dar conta da repentina digitalização de nossas vidas. Por fim, essas empresas estão efetivamente fazendo menos dinheiro no pós-pandemia.
Algumas livrarias, por outro lado, colhem os frutos de mudanças em seus modelos de negócios e na própria visão do que fazem, atualizando empresas com muita história. Com isso, não apenas estão fazendo dinheiro, como estão crescendo.
Veja esse artigo em vídeo:
Talvez o caso mais emblemático seja o da cadeia de livrarias americana Barnes & Noble. Fundada em 1886, em 2008 chegou a ter 726 lojas em todos os estados do país. O setor já vinha sofrendo forte concorrência do e-commerce e dos leitores de livros digitais, e isso só aumentou de lá para cá. Ainda assim, em meio a concorrentes tradicionais fechando as portas, a empresa conseguiu se segurar e terminou o ano passado com 600 lojas. Mas o sinal mais interessante é que pretende abrir 30 novos endereços em 2023.
O “bicho-papão” do setor, a quem se atribui grande parte dessa quebradeira, é a também americana Amazon, com sua máquina de vender de tudo –inclusive livros, aliás sua origem– e seu leitor eletrônico Kindle. Ela provocou grandes mudanças no comportamento do consumidor. As pessoas estão lendo mais, com o digital ganhando mais espaço, tanto no formato, quanto na forma de comercialização. Livrarias e editoras que não conseguiram se adaptar a isso foram colocadas para fora do mercado.
- Assine gratuitamente minha newsletter sobre experiência do cliente, mídia cultura e transformação digital
- Inscreva-se no meu podcast (escolha a plataforma): Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Soundcloud
As 600 lojas das Barnes & Noble podem passar a falsa impressão de que os problemas da rede não são tão grandes. Eles são e cresceram à medida que a empresa tentou bater a Amazon em seu terreno. Chegou até a lançar seu próprio leitor de livros eletrônicos, o Nook, em 2009. Mas em 2018 a empresa perdeu US$ 18 milhões e demitiu 1.800 funcionários, inclusive seu CEO, Demos Parneros, sob acusações de assédio sexual.
A virada aconteceu com James Daunt, um britânico conhecido por fazer “mágica” no setor de livros, que assumiu o posto de CEO em agosto de 2019. Ao chegar lá, disse que as lojas eram “crucificantemente chatas”. E então começou seu trabalho, que, de mágico não tem nada, apesar de contrariar o que executivos do setor defendem.
Ele eliminou descontos, com a crença de que diminuem o valor percebido dos livros. Além disso, não aceita dinheiro das editoras para promover títulos, pois não quer ser forçado a empurrar obras ruins goela abaixo dos leitores. Pelo contrário, faz questão que seus vendedores sejam amantes da literatura, e ofereçam livros realmente bons para cada cliente, mesmo que não sejam best-sellers.
Na pandemia, com lojas fechadas, Daunt determinou que vendedores reorganizassem as lojas segundo critérios que achassem que favoreceriam livros e leitores, eliminando espaço de produtos “concorrentes”, como brinquedos e bugigangas. Agora, ironia das ironias, algumas das novas Barnes & Noble podem ocupar lojas onde recentemente a Amazon tentou sem sucesso vender livros nos EUA.
Para muitos, Daunt pode apenas ter sorte. Mas não é nada disso e não está sozinho!
Respeite o cliente
Essa mudança bem-sucedida sugere o fim das megalivrarias, que reuniam incontáveis serviços para atrair o público, desde café até eventos musicais. Era como se os livros não fossem mais suficientes para atrair clientes.
Quando isso se alastrou pelo mundo há 30 anos, muitas boas livrarias sucumbiram àquele novo poder impulsionado pelo dinheiro. Isso aparece no filme “Mensagem para Você” (1998), em que Tom Hanks interpreta o dono de um conglomerado (que poderia ser a Barnes & Noble da época) que quebra uma livraria de bairro, sem saber que a dona, vivida por Meg Ryan, era a mulher por quem havia se apaixonado online.
Se são necessários café e brinquedos para vender livros, talvez o negócio não seja… livros. Como em qualquer caso, a boa venda acontece quando se conhece o produto e o cliente, e quando se é capaz de se oferecer o produto certo para cada necessidade, sem forçar a “bola da vez”. Por mais que exista “dinheiro de incentivo”, a longo prazo as pessoas comprarão mais daqueles que os atenderem genuinamente bem.
Esse é o segredo da Amazon. Sim, é de amplo conhecimento que a empresa tem práticas consideradas abusivas contra fornecedores e funcionários, problemas que precisam ser resolvidos. Mas seus algoritmos e seus atendimento focam no cliente.
Na época em que a Amazon se preparava para operar no Brasil, eu trabalhava para uma grande editora nacional. E ficava chocado quando, nas reuniões semanais da diretoria, a preocupação era buscar mecanismos para atrapalhar ao máximo a chegada da gigantesca concorrente. Em nenhum momento eram propostas soluções para a experiência dos clientes passar ser melhor que a oferecida pela Amazon.
Resultado: hoje a Amazon está bem estabelecida no Brasil, enquanto aquela marca nacional é uma pálida sombra do que era há uma década.
Muitas livrarias brasileiras, outrora fantásticas, também tiveram destino semelhante, como a Cultura e a Saraiva. Por outro lado, é uma alegria ver que muitas outras, como a Livraria da Vila, a Travessa e a Curitiba, escolheram caminhos mais alinhados com o de Daunt. Elas estão crescendo, mesmo com a crise, mesmo com a pandemia, mesmo em um país conhecido por ter cidadãos que leem pouco. E elas conseguem isso porque atendem bem o público no seu negócio, que é vender livros.
Isso é respeito e até uma forma de amor pelas pessoas e pelo que se faz. A ideia pode ser aplicada a qualquer negócio. Não há nada de errado em querer diversificar, desde que isso não o tire do seu foco e o afaste de seu público. Eu tenho muitas atividades, mas amo jornalismo, e por isso estou aqui “conversando” com vocês, e espero fazer isso sempre bem.
Talvez seja o caso de gestores perguntarem o que amam.