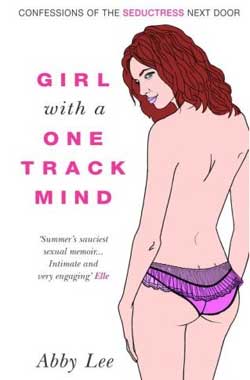Depois de Julian Assange, criador do WikiLeaks, que ontem abriu o Info@Trends 2011, hoje foi a vez de Arianna Huffington iniciar os trabalhos do evento. A grega, criadora do The Huffington Post e presidente do AOL Huffington Post Media Group (desde que a AOL lhe pagou US$ 315 milhões para incorporar seu veículo), veio ao Brasil para participar do congresso e se reunir com jornalistas e executivos de empresas de mídia. Explica-se: ela quer lançar uma versão brasileira do HuffPost, de preferência ainda neste ano.
Distribuindo sorrisos, Arianna reafirmou suas crenças sobre como o jornalismo deve ser feito. E, para ela, a blogosfera é decisiva. O HuffPost, apesar de possuir uma grande equipe de jornalistas profissionais, nasceu e se mantém pela contribuição -não remunerada-, de milhares de blogueiros. Dessa forma, o veículo oferece enorme abrangência em suas coberturas e uma saudável pluralidade de ideias. O resultado é mais que positivo: a rede de blogs de Arianna construiu uma boa reputação e superou até o aclamado The New York Times em audiência.
Apesar disso, seus ideais não são uma unanimidade na indústria. Muita gente, principalmente da mídia tradicional, torce o nariz para o jornalismo produzido na blogosfera, especialmente por pessoas que não são jornalistas. “É tão difícil para tanta gente entender por que tanta gente escreve de graça”, disse Arianna, que emendou uma alfinetada: “então por que tanta gente passa cinco horas assistindo a TV ruim de graça?”
Arianna tem uma explicação na ponta da língua: “a autoexpressão se transformou em um novo tipo de entretenimento.” Foi-se o tempo em que as pessoas queriam apenas consumir notícias. Agora elas querem pautar (inclusive jornalistas profissionais), apurar, escrever, publilcar, promover. “Tem tudo a ver com compartilhamento e tem tudo a ver com engajamento”, completou.
Ela está certíssima! A maioria dos jornais está se esquecendo do que é contar uma boa história. Ficam reféns do jornalismo palaciano, declaratório e demasiadamente dependente de números. Redações, cada vez mais jovens (e baratas), são vítimas de balões de ensaio de fontes sem escrúpulos, propagando versões falsas dos fatos. E fazem isso de uma maneira chata, cansativa.
Não é de se admirar que o HuffPost ganha espaço de seus concorrentes centenários. Seus jornalistas e blogueiros não se limitam apenas a trazer informação: fazem isso com personalidade, sabor. “Nossos editores são preparados para fazer manchetes mais intimas com o leitor, com humor, quase como um amigo.” Além disso, funcionam como “curadores” da enorme massa de material produzido pela comunidade.
A mídia tradicional se defende com a promessa de entregar aos leitores a melhor informação disponível. “Mas é falso”, disparou Arianna. De fato, por mais preparada e equipada que seja uma Redação, sua capacidade de produção é limitada. Isso é um tremendo problema em um mundo em que as pessoas não mais se contentam com um noticiário limitado: querem um noticiário hiperlocal e hiperpersonalizado. Querem um noticiário feito “exclusivamente” para cada um, algo que uma empresa de mídia tradicional simplesmente não consegue entregar. Na aurora desse novo jornalismo, o modelo do The Huffington Post floresceu e já deu frutos.
Em poucos meses, os brasileiros poderão experimentar a proposta de Arianna em bom português. Resta saber se ela repetirá aqui o sucesso que alcançou lá fora. Façam suas apostas!