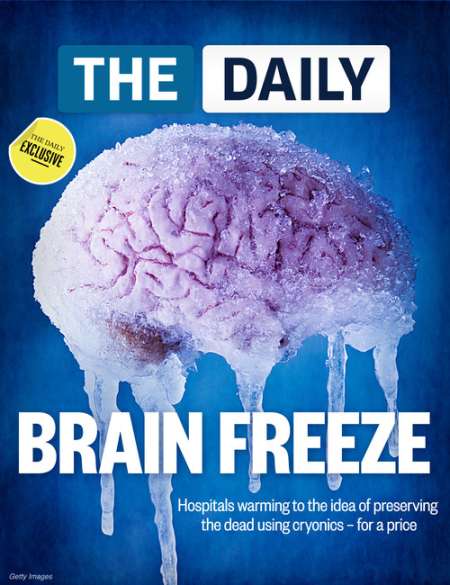Esse ano promete para o jornalismo brasileiro! O país está em polvorosa e, assim mesmo, será palco de grandes eventos. Mas 2016 também deve ser o ano em que o meio digital assumirá um papel de protagonista no noticiário. E isso acende uma lâmpada vermelha nos chamados “veículos tradicionais”.
Teremos, em agosto, as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Dois meses depois, será a vez das eleições municipais. Sem falar na crise econômica e no turbilhão político, que pode contar até com o impeachment da presidente da República. Ou seja, considerando apenas o noticiário nacional, assunto não faltará!
A questão é: quem fará a melhor cobertura? Os eventos acima exigem musculatura, muito dinheiro, grandes equipes. Portanto, os “suspeitos de sempre” –Globo, Folha, Estadão e afins– serão os responsáveis pela cobertura mais extensa. Mas isso não quer dizer que ela será a melhor, pelo menos sob a ótica do público.
O principal problema dos impérios de comunicação brasileiros é uma crise de credibilidade e de representatividade que só cresce. Isso é a morte para um veículo, pois sua existência só se justifica enquanto ele tiver um público que represente e que o busque para se informar. Mas o que temos visto nos últimos anos, cada vez mais, é o público bradar “esse veículo não me representa”. Chegamos ao cúmulo de jornalistas serem agredidos enquanto trabalham (e as vítimas mais comuns disso são os profissionais da Globo).
Esse movimento não é gratuito ou inesperado. Especialmente graças ao surgimento de alternativas jornalísticas no meio digital –e muitas nem podem ser classificadas como “veículos”– fica cada vez mais evidente o comprometimento da mídia tradicional com interesses econômicos e políticos (de oposição ou de situação). Isso ter interferido decisivamente na qualidade e na isenção editorial, ficando claro que o veículo está a serviço dos interesses da empresa e se lixando para a verdade e para o público.
Sem esse mesmo público, as tiragens despencam, os anunciantes fogem e os veículos desaparecem. O exemplo mais dramático é o da Editora Abril, que já repassou 17 revistas para a Editora Caras. Outros tantos títulos importantes foram simplesmente fechados (como a Info) ou perdidos (como a Playboy). Segundo fontes internas, as duas últimas revistas relevantes da casa dos Civita, Veja e Exame, já estão à venda, mas não há compradores interessados. A situação está tão ruim, que, desde o primeiro dia de 2016, a editora não cuida mais da praça Victor Civita, que leva o nome do seu fundador e é uma das mais modernas da cidade. Ela fica ao lado da imponente edifício-sede em Pinheiros, que, cada vez mais vazio, deve ser desocupado ainda neste ano, com os funcionários voltando para o velho prédio da Marginal Tietê, onde fica sua gráfica.
Em menor escala, mas de maneira igualmente preocupante, os outros grandes grupos de comunicação veem suas receitas caindo, junto com o interesse pelos seus produtos.
É o fim?
O renascimento no digital
De forma alguma! Apesar de magnatas da comunicação estarem sofrendo, o jornalismo vive um período emocionante de transformação. E o resultado disso são produtos jornalísticos mais modernos em sua forma e modelos de negócios, resgatando o fundamental vínculo com o público.
Naturalmente o digital está envolvido até o último bit nesse processo. O primeiro motivo é a própria mídia: é muito raro encontrar alguém com menos de 30 anos lendo uma revista ou um jornal impresso. Mais precisamente, a maior parte de seus públicos já tem mais de 50. E isso explica por que, há alguns anos, ouvi do gerente de assinaturas de um grande jornal paulista que ele acabara de criar uma nova linha na planilha de motivos para o cancelamento da assinatura: morte! Sim, a assinatura havia sido cancelada porque o assinante tinha morrido. O mesmo fim de qualquer produto que não consegue renovar seus clientes.
Nesse cenário, os gigantes digitais já perceberam que estão com a faca e o queijo nas mãos. Estudo publicado pelo prestigiado Pew Research Center demonstrou que o Facebook e o Twitter já podem ser considerados como fonte de noticiário: 63% dos americanos usam pelo menos uma das plataformas para se informar. Não é de se estranhar, portanto, que ambos, além de Apple e Google, tenham criado produtos que facilitam o consumo do noticiário neles mesmos. Lançado primeiro, os “artigos instantâneos” do Facebook já tiveram adesão de grandes veículos, inclusive brasileiros. Ótimo para essas plataformas; nem tanto para os veículos, que podem ser reduzidos a meros produtores de conteúdo.
Mas a grande mudança está acontecendo nas novas publicações, que já nasceram digitais. Não ficam, portanto, se martirizando para tentar migrar modelos de produção, distribuição e negócios moribundos para uma nova plataforma. Mesmo os que foram criados por egressos dos veículos “tradicionais” têm as equipes editoriais e de negócios cheias de “millennials”, cujos comportamentos, gostos e percepções são determinantes para o futuro dessas empresas. Procuram estar em todas as plataformas disponíveis, e criam produtos específicos para cada uma: afinal, os objetivos e a linguagem usados no Facebook não são as mesmas do YouTube, que também diferem, por exemplo, de um aplicativo ou do site do próprio veículo.
Por fim, há outra característica muito interessante nesse novo jornalismo: os veículos não criam enormes estruturas para cobrir todo tipo de assunto. Normalmente são focados em um tema específico, mas fazem aquilo muito bem. E isso faz todo sentido! Afinal, por que comprar um jornal ou uma revista que podem ser muito bons em política, mas péssimos em esportes? Muito melhor é consumir cada conteúdo de um especialista no assunto. E a “integração” da experiência informativa é feita pelo smartphone ou pela plataforma digital de preferência do usuário.
Então 2016 será o ano em que a mídia impressa vai morrer? Claro que não! Mesmo que continuem fazendo tudo errado, os impressos ainda têm muitos anos de sobrevida. Cada vez mais restritos, é verdade, mas ainda têm seu espaço garantido, pois, apesar de tudo, têm o seu público.
E há o ótimo exemplo que vem sendo dado por Jeff Bezos, dono da Amazon, que comprou The Washington Post em 2013 e está promovendo um verdadeiro renascimento do jornalão de 138 anos, colhendo resultados muito expressivos. O segredo? “Digitalizou” os modelos de negócios e de produção e manteve a excelência editorial do impresso.
Portanto, 2016 será um ano de grandes oportunidades para o jornalismo! Mas será melhor ainda para quem souber –e quiser– fazer a coisa certa.
Vídeo relacionado:
Artigos relacionados: