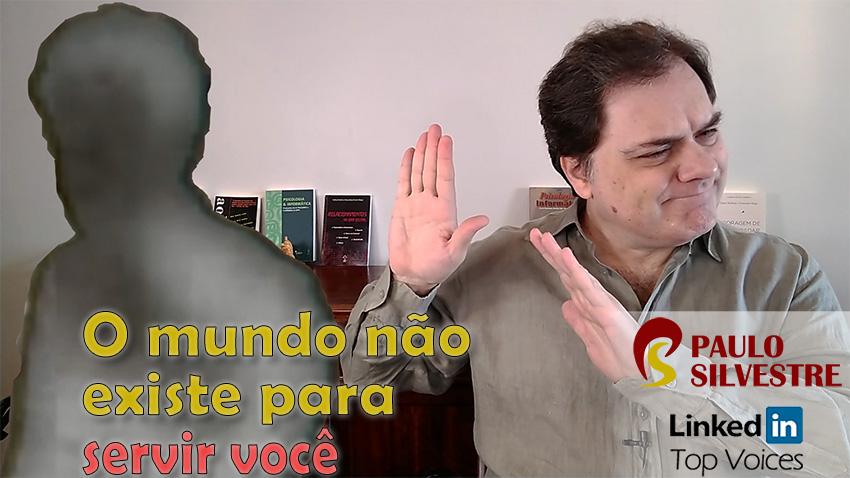Desde o final do ano passado, estamos nos acostumando a ver na imprensa notícias frequentes sobre megavazamentos de informações pessoais feitos por hackers, que roubaram enormes bancos de dados de empresas. Também vemos diversos relatos de pessoas que são vítimas de delinquentes digitais ao cair em todo tipo de golpe online.
A má notícia é que isso pode piorar de maneiras até então inimagináveis, podendo até colocar nossa vida em risco!
Todos esses crimes são resultado não apenas da eficiência dos bandidos, mas também da crescente digitalização de empresas e de nossas vidas. Isso ganhou ainda um grande impulso adicional com o distanciamento imposto pela pandemia de Covid-19.
Empresas, instituições de qualquer natureza e até governos estão profundamente conectados à Internet. E todos nós seguimos pelo mesmo caminho, não apenas em nossas tarefas cada vez mais realizadas em celulares e computadores. Não é de hoje que até alguns eletrodomésticos coletam informações sobre nós e as transmitem pela Internet. Mais recentemente estamos vestindo dispositivos conectados que nos rastreiam. Agora começamos a ver implantes em nossos corpos que também estão conectados à rede.
Veja esse artigo em vídeo:
A princípio, esses dispositivos estão online para enviar, por exemplo, informações sobre nossa saúde a nossos médicos e hospitais. Mas especialistas temem que tudo isso possa ser invadido e controlado remotamente, inaugurando um novo tipo de crime, antes visto apenas em filmes sobre futuros distópicos.
Se hoje hackers já invadem computadores e pedem resgate para devolver o acesso às informações em seus discos rígidos, pode chegar um momento em que eles invadam, por exemplo, um marca-passo e exijam dinheiro para não matar seu portador. Ou ainda que realizem atentados desabilitando os freios e acelerando um carro, tudo à distância.
- Siga-me no LinkedIn
- Siga-me no Instagram
- Siga-me no YouTube
- Inscreva-se no meu podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Soundcloud
O fato é: tudo que puder ser invadido será!
Em 2014, quando ainda era CEO da Cisco, John Chambers chegou a dizer que existem dois tipos de empresas: as que já foram invadidas e as que ainda não sabem que já foram invadidas. Mas com a onipresença do digital em tudo que fazemos, tais invasões se estendem também aos clientes dessas empresas.
Por exemplo, já não é de hoje que, ao ligar pela primeira vez uma Smart TV recém-comprada, seu feliz proprietário precisa aceitar “termos de uso” do equipamento como parte da rotina de configuração inicial. Nada mais natural: as TVs agora são muito mais que um equipamento que transmite imagens das emissoras. Tornaram-se verdadeiros computadores executando aplicativos online dos mais diversos, transmitindo –mas também coletando– informações: nossas informações.
Algumas TVs no exterior incluem uma pitoresca sugestão em seus “termos de uso”: não façam, diante do aparelho, algo que você possa se arrepender depois. Afinal, muitos desses equipamentos possuem câmeras e microfones incorporados. Essas TVs são computadores com sistema operacional e linguagem de desenvolvimentos conhecidos, sem nenhum antivírus ou firewall para proteção e permanentemente conectados à Internet.
Nada impede que um hacker as invada para gravar aspectos de nossa vida que depois podem ser usados contra nós. Essa ideia foi explorada no episódio “Manda Quem Pode”, o terceiro da terceira temporada da série “Black Mirror”, em que um adolescente é chantageado por criminosos depois de o gravarem pela câmera de seu notebook.
Casa e negócios conectados
Observe quantos equipamentos em sua casa estão conectados à Internet nesse momento: você certamente tem pelo menos um deles! Alguns são óbvios, como os celulares, os computadores, relógios inteligentes, a smart TV, os assistentes digitas e o videogame. Outros nem tanto, como aparelhos de som, lâmpadas e até modelos mais recentes de aspiradores de pó robôs. A maioria dele é capaz de coletar alguma informação sobre você ou seu ambiente e transmitir a seu fabricante, incluindo aí o aspirador de pó.
A princípio, tudo isso foi criado para benefício do consumidor, para deixar sua vida mais fácil, produtiva e divertida. Chegamos a um ponto em que nossa imaginação é o limite para conectarmos tudo na rede.
Estudos sugerem que, nesse ano, praticamente metade de todo tráfego de dados na Internet acontecerá entre equipamentos “falando entre si”, sem nenhuma intervenção humana. É o fenômeno da Internet das Coisas. Como comparação, apenas 13% dos dados sairão ou chegarão de nossos celulares e míseros 3% de nossos computadores, que estão prestes a ser superados pelas smart TVs nesse quesito.
Quem tem em casa assistentes digitais, como Amazon Echo ou Google Home, já pode controlar vários eletrodomésticos com sua voz. Mas a automação digital das casas vai muito além, com geladeiras, cafeteiras, persianas e até banheiras controladas remotamente.
Os carros também estão cada vez mais digitais e conectados. Modelos topo de linha podem ter computadores de bordo online e com mais linhas de código que um sistema operacional para computadores, controlando todos os equipamentos do veículo. Isso permitiu que, em 2015, pesquisadores de segurança invadissem um jipe Cherokee a 16 quilômetros de distância. A partir de comandos em um notebook, diminuíram a potência do veículo, mudaram a estação do rádio a bordo e ligaram o ar-condicionado e o limpador de para-brisa.
No ambiente comercial, acompanhamos o crescimento de lojas sem funcionários, em que o próprio cliente pega o que quer e sai, com a compra sendo automaticamente debitada em seu cartão. Mas também vemos coisas no mínimo inusitadas, como grelhas de lanchonetes com a temperatura controlada de maneira online (para evitar superaquecimentos e incêndios) e até galerias de águas pluviais com sensores (para evitar enchentes).
Corpos conectados
Assim como nossas casas, carros e escritórios estão cada vez mais conectados, nossos corpos seguem pelo mesmo caminho, seja pelo que vestimos ou até por implantes em nosso organismo.
O celular é a máquina perfeita de rastreamento, pois é a única coisa na vida da qual não nos afastamos durante todo dia. Além disso, instalamos dezenas de aplicativos nele, alguns de procedência duvidosa, que podem coletar uma enxurrada de dados nossos, repassando-os a criminosos. A simples geolocalização pode ser usada para traçar nosso hábito de movimentação, o que pode ser usado, por exemplo, no planejamento de sequestros.
Além disso, vestimos ou usamos cada vez mais equipamentos online que coletam e transmitem nossos dados. É o caso de relógios inteligentes, capazes de, entre outras coisas, monitorar nossos batimentos cardíacos.
Isso pode ser muito bom, como no caso do jornalista americano Paulo Hutton, que foi salvo pelo seu Apple Watch em 2019. Na época com 48 anos, o aparelho identificou anomalias nos seus batimentos, o que lhe permitiu descobrir que tinha bigeminia ventricular, que foi corrigida antes que algo pior acontecesse. Por outro lado, em mãos erradas, informações tão íntimas de nossa saúde podem permitir usos nefastos.
Vestimos e usamos muito mais dispositivos conectados que coletam nossas informações ou podem ser controlados remotamente: câmeras portáteis, óculos de realidade aumentada ou virtual, medidores de glicemia, roupas com sensores. Há até mesmo vibradores que podem ser controlados à distância, pela Internet!
Essa digitalização da vida é um caminho sem volta. Os benefícios que recebemos são imensos! Por outro lado, não há sistema que não possa ser invadido. Essa é uma corrida de gato e rato, com fabricantes tentando proteger seus produtos e hackers encontrando suas vulnerabilidades.
Diante disso, o ideal é que funções críticas de equipamentos nunca sejam controláveis à distância. Afinal, não podemos deixar que os hackers desliguem marca-passos, provoquem sérios acidentes de carro ou gelem nossa casa com o ar-condicionado.