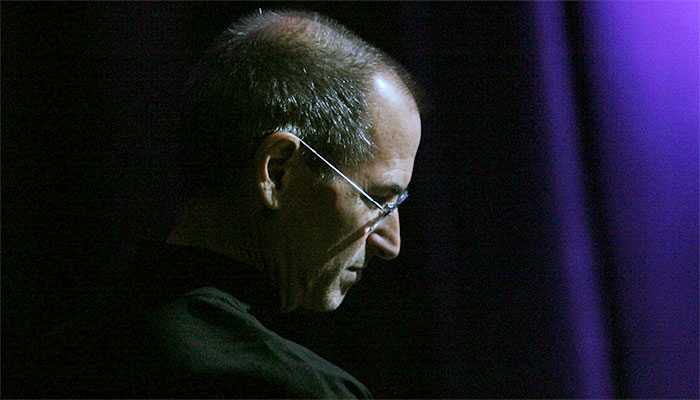Neste sábado, explicava a alunos de marketing digital que a principal causa do fim de um produto não são novas tecnologias, concorrentes ou regulações. O que mata uma marca é seu próprio público, quando encontra uma alternativa que percebe como mais vantajosa para si. Por isso, as salas de cinema estão passando por um “momento da verdade”, com potencial de transformar um produto de massa em uma escolha de aficionados.
No centro dessa ameaça, estão mudanças comportamentais do público, derivadas da Covid-19 e do avanço de tecnologias digitais e da telecomunicação. Por isso, apesar de os estúdios estarem com sua produção cinematográfica a pleno vapor, as salas de exibição recebem pouca gente, em um nível preocupante.
Serviços de streaming –como Netflix e Disney+– normalmente levam a fama por esse esvaziamento dos cinemas, mas sua concorrência é só parte da explicação. Temos que pensar no público, que nunca consumiu tanto conteúdo audiovisual, mas agora prefere fazer isso de maneiras diferentes, em experiências que entendem como mais interessantes. As salas de exibição, por outro lado, fazem poucos movimentos para resgatar o vínculo perdido com seus clientes, esperando que eles voltem para um formato que não tem mais o apelo de antes.
Veja esse artigo em vídeo:
Tudo é uma questão de percepção! E não adianta ficar reclamando que os clientes não entendem que a experiência de se ver um filme nos cinemas é muito melhor e tem seu valor. Você e eu podemos até concordar com isso, mas cada um percebe o que quiser sobre qualquer coisa: não há percepção errada. Se as pessoas “não entendem” seu ponto de vista, isso não é problema delas: é problema seu!
Colocando isso em números, a Ancine (Agência Nacional do Cinema) indica que foram vendidos 44,8 milhões de ingressos no país, entre janeiro e julho desse ano. No mesmo período de 2019, foram 88,3 milhões. A renda nominal também está baixa: neste ano, foram arrecadados R$ 873 bilhões, contra R$ 1,44 trilhão no primeiro semestre de 2019.
Já o levantamento “Hábitos Culturais III”, realizado pelo Itaú Cultural e pelo Datafolha e divulgado na quinta, mostra que o cinema foi a atividade cultural mais castigada pelo abandono do público no pós-pandemia. A edição atual da pesquisa aponta que só 26% das pessoas assistiram a pelo menos um filme nos cinemas nos últimos 12 meses. A anterior indicou que mais que o dobro –59%– fizeram isso em 2019, portanto antes da Covid-19.
- Assine gratuitamente minha newsletter sobre experiência do cliente, mídia cultura e transformação digital
- Inscreva-se no meu podcast (escolha a plataforma): Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Soundcloud
Na sexta, realizei uma enquete no LinkedIn para saber se as pessoas estão indo mais ou menos às salas de exibição. Até o momento, 1.173 pessoas responderam, indicando que 24% estão frequentando as salas regularmente, 44% estão fazendo isso menos que antes da pandemia e 25% não estão indo (os 7% restantes indicaram outras respostas).
Os entrevistados destacaram o preço dos ingressos dos cinemas como um dos principais motivos pela diminuição. E com o valor de um ingresso para um filme 2D superando R$ 40 em São Paulo, o programa para uma família de quatro pessoas, incluindo estacionamento e pipoca, ultrapassa os R$ 200 com facilidade.
De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os ingressos para cinema ficaram 12,43% mais caros em 12 meses. Em comparação, o valor de um único ingresso do exemplo anterior dá e sobra para se assinar qualquer plataforma de streaming por um mês inteiro.
A comodidade de se ver o filme na própria casa, no horário que quiser, podendo dar pausa para ir ao banheiro e com um cardápio mais variado que o das caríssimas bombonieres dos cinemas também foi bastante destacada na enquete. Até a opção de se ver, no streaming, um filme com som original e legendas ao invés de se submeter à maior oferta de cópias dubladas nas salas foi apontado.
Em um país em que a inflação tira comida da mesa das pessoas, não são muitos os reais que sobram para o entretenimento. Eles precisam ser bem investidos.
“Assinatura de cinema”
Se dinheiro é problema, várias redes de cinema criaram pacotes de “assinatura” ou compras pré-pagas. Do lado do cliente, isso barateia os custos do ingresso. Do lado das salas, fideliza o cliente e garante um aporte com antecedência.
A rede Cinemark, por exemplo, lançou em abril o Cinemark Club, que oferece descontos, prêmios e ingressos pelo pagamento de uma mensalidade. Considerando apenas os ingressos, a economia supera 50%. A rede Itaú Cinemas, por sua vez, lançou pacotes de compra antecipada de 8 ou 16 ingressos, por menos da metade do preço normal. Já a rede Kinoplex criou o Kinopass, que permite a compra de cinco ingressos com desconto para qualquer dia e sessão.
Para trazer gente para as salas, vale até alugar os espaços para eventos corporativos e festas de aniversário. Tudo isso serve como incentivo para as pessoas voltarem, mas não deve ser suficiente. Como mostram as pesquisas, algo mudou na cabeça do consumidor quando descobriu, com a pandemia e o streaming, que é possível ter uma experiência boa de se ver filmes em casa –para alguns até melhor que ir aos cinemas.
Não é a primeira vez que os cinemas precisam enfrentar uma ameaça tão grande. Na década de 1980, com a popularização das fitas VHS, que deu origem às videolocadoras, muitos chegaram a decretar a morte das salas. Afinal, por um valor muito menor, as pessoas alugavam os filmes para assistir em casa.
O curioso é que a experiência do VHS era ruim, com imagem e som de baixa qualidade nas telas bem pequenas das TVs da época. O problema é que os cinemas eram igualmente ruins, com telas relativamente pequenas, projeção escura, som abafado e ambientes desconfortáveis.
Se nada tivesse sido feito, possivelmente as previsões apocalípticas sobre o fim das salas poderiam ter se concretizado. Mas, nessa época, começaram a surgir as grandes cadeias que temos hoje, que transformaram as salas bolorentas em uma experiência muito superior ao que se poderia ter em casa. E isso salvou os cinemas!
Esse é o grande desafio dos exibidores hoje: criar uma experiência que esteja tão à frente do streaming e a um preço razoável, que as pessoas queiram novamente sair de casa. O que oferecem hoje claramente não está sendo mais suficiente.
Isso não será feito com meias-medidas ou meras adaptações do que já existe. Os cinemas precisam parar de olhar apenas para sua crise e suas necessidades e passar a prestar atenção no que o consumidor realmente deseja. E não bastam os cinéfilos, que continuam confortáveis com a oferta disponível. Afinal, o cinema é um fenômeno de massas.