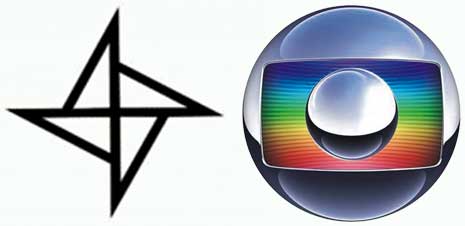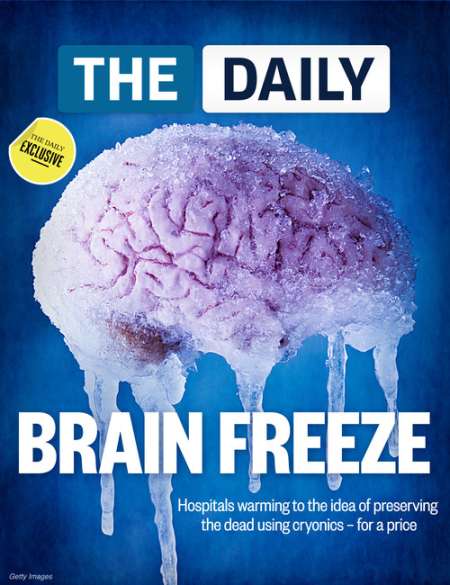De uns tempos para cá, ao final de notícias que eu leio na Internet, aparecem sugestões de “conteúdos relacionados” sobre “pílulas que zeram a fome e secam a gordura”. Não importa se a página é sobre política, economia, cultura ou até mesmo os meus próprios artigos publicados no Estadão: as malfadadas fórmulas do emagrecimento estão lá! Como não acredito em coincidências nos meios digitais, comecei a achar que o Estadão, Exame e outros veículos sérios estavam me chamando de gordo. Claro que não era isso! Só que esse comportamento bizarro pode ensinar algo a todos nós: temos que identificar e nos proteger das ameaças escondidas a nossa reputação.
Os responsáveis pelas infames chamadas são as “plataformas de descoberta de conteúdo”, basicamente o Taboola e o Outbrain. Sua proposta é gerar chamadas de conteúdos semelhantes ao da página em que o usuário estiver. Esse conteúdo pode ser do próprio veículo ou de terceiros. No último caso, os veículos que exibem as chamadas são remunerados pela plataforma, como se elas fossem anúncios, de maneira semelhante a programas como o Google AdSense. A diferença é que, ao invés de entregar banners, servem chamadas editoriais.
A ideia dessas plataformas, portanto, é legítima e muito boa: o usuário receberia conteúdo adicional do qual já demonstrou interesse, e os veículos ganhariam dinheiro por essas chamadas. Por isso, o Outbrain e o Taboola cresceram rapidamente, conquistando alguns dos maiores grupos de comunicação do mundo como clientes. Só que, na prática, não é bem isso que anda acontecendo.
O problema é que tais plataformas começaram a entregar todo tipo de porcaria como se fosse conteúdo relevante. Além disso, de relacionados à página atual, essas chamadas não têm nada! Logo, para que tenham chance de ser clicados, começaram a usar títulos e fotos apelativos (os caça-cliques), e a coisa virou um grande mercado persa, onde vale-tudo. Veja abaixo alguns exemplos de títulos de reportagens e artigos, e os “conteúdos sugeridos” associados a cada um:




Como se pode ver, não interessa sobre o que trata a página. O que o usuário recebe é sempre a mesma coisa: links para páginas comerciais apelativas, totalmente em desacordo com a própria linha editorial do veículo.
O Taboola e o Outbrain possuem regras claras sobre o que pode ser veiculado em sua rede. Além disso, possuem equipes editoriais que zelam pela qualidade do material que oferecem. Afinal, as duas empresas afirmam querer melhorar o nível geral da Internet com o seu serviço. Só que claramente algo não está dando certo.
Para piorar a situação, os veículos que distribuem essas chamadas têm, a sua disposição, mecanismos das próprias plataformas para banir conteúdos que considerem inadequados. Pela onipresença e irrelevância das chamadas nos exemplos acima –que já caracterizam um novo tipo de spam– e pelo nível rasteiro de seu conteúdo, todas elas já deveriam ter sido banidas pelos veículos. Mas isso não acontece, pois são justamente essas chamadas as que pagam mais. Logo, bloquear esse conteúdo seria como devolver um gordo cheque enquanto se passa fome.
É aí que a porca torce o rabo!
Faça o que mando, mas não faça o que faço
Acontece que os usuários não são otários! Apesar de, em um primeiro momento, parecer que as chamadas levam a conteúdo do próprio veículo, logo fica claro que aquilo é uma verdadeira arapuca. E aí as reclamações dos usuários começam a jorrar!
Uma ótima reputação é crítica para qualquer veículo de comunicação, de qualquer mídia. A credibilidade é a matéria-prima do jornalismo, pois, sem ela, as pessoas não consomem esse produto. E, sem público, não há receita alguma para essas empresas. Portanto, quando um veículo se presta a fazer qualquer coisa para ganhar uns cobres, inclusive publicar conteúdos que atentem contra a sua reputação, desaparece sua razão de existir. É um tiro na cabeça!
Ironicamente, isso acontece em um momento em que os próprios veículos querem assumir um papel de protagonismo na luta contra a chamada “desinformação”, conteúdos propositalmente falsos, mas criados e “plantados” nas redes sociais para que pareçam verdadeiros, para que seus autores atinjam objetivos questionáveis (e até criminosos). As grandes empresas de comunicação têm se posicionado como a solução contra esse conteúdo mentiroso, pois prezariam pela qualidade do que produzem e veiculam.
Mas se isso fosse verdade, como ficam então as suas promoções de pílulas de emagrecimento?
Ladrões de reputação no nosso cotidiano
Essas infames chamadas corroem a credibilidade que o veículo de comunicação construiu com muito esforço, alguns ao longo de muitas décadas de trabalho duro. Por evitar isso, importantes veículos internacionais, como Slate e The New Yorker, antes clientes dessas plataformas, deixaram de usar seus serviços.
Acho difícil acreditar que os responsáveis por empresas de comunicação sérias não percebam que trouxeram para dentro de casa um ladrão de reputação –o que torna tudo isso ainda mais inaceitável. Mas, no nosso cotidiano, às vezes cruzamos com obscuros processos, atitudes ou até mesmo produtos que podem minar a reputação de nossas empresas ou de nós mesmos, como profissionais.
Reputação não é algo que pode ser simplesmente comprada. Ela precisa ser continuamente cultivada com boas práticas. Fazendo bem o nosso trabalho, entregando produtos de qualidade, tratando respeitosamente nossos clientes, interagindo com nosso público e com a sociedade construímos a nossa imagem. E isso é fundamental para o nosso sucesso.
Entretanto um bom trabalho no passado não garante que nossa boa reputação continuará intacta no futuro. Esse é um processo contínuo, e precisamos estar atentos a “mancadas”, mesmo as mais obscuras, pois elas acontecem. Isso é absolutamente normal: ninguém acerta o tempo todo. A questão é o que você faz diante do problema. E, em tempos de redes sociais, em que o que fazemos certo aparece bem, mas o que fazemos errado aparece ainda mais, nossa reputação depende de como lidamos com o problema.
Não entrarei no mérito de gestão de grandes crises, o que renderia outro artigo. Eu me refiro aos pequenos roedores que vão comendo nossa reputação continuamente. Podem ser pequenas falhas no nosso produto, atendimento ruim aos clientes, comentários desastrosos em redes sociais, processos questionáveis para aumentar os lucros, entre outros.
A primeira coisa a se fazer é aceitar que esses problemas existem. Se não tivermos essa postura, muitas vezes nem percebemos que eles estão ali, comendo nossos pés. Em seguida, temos que lhes dar a devida importância, pois, se acharmos que eles são só “coisinhas”, sempre deixaremos a sua solução para depois, até que seja tarde demais. O problema deve ser corrigido imediatamente, e o público deve receber uma satisfação o mais rapidamente possível, pois estamos sob constante escrutínio dos nossos clientes e até mesmo da sociedade.
Uma vez identificados esses ladrõezinhos, precisamos lidar com eles, principalmente quando eles foram “convidados” para entrar. Em outras palavras, cuidado com o dinheiro fácil, pois ele sempre cobra depois seu real custo.
Portanto, não venda “pílulas de emagrecimento” no meio de seus verdadeiros produtos ou serviços. As fotos das moças de biquíni podem parecer sedutoras hoje, mas elas não duram para sempre. Quando elas forem embora, você estará sozinho e com sua reputação abalada. E, nessa hora, será muito mais difícil se reerguer.
O seu real valor está naquilo que você faz bem. Confie nisso e invista nas suas fortalezas.
Artigos relacionados:
- A reputação digital pode promover ou arruinar sua carreira e seu negócio: saiba como conquistá-la
- Não olhe agora, mas você pode estar financiando um terrorista
- Quanto vale a palavra de um influenciador digital?
- Quem aguenta tanta opinião (e intolerância) nas redes sociais?
- Você está sendo manipulado… e pode estar achando isso engraçado!
- O que significa o vexame que esculhambou a Bayer e a AlmapBBDO em Cannes