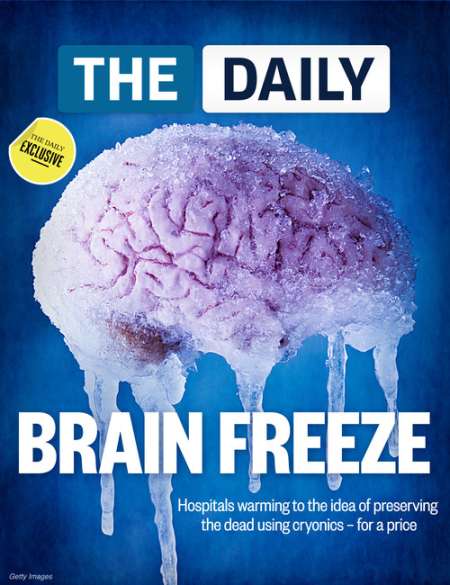Desde que discuti aqui a polêmica dos sites que dispensam usuários que têm ad blockers, me perguntam se o conteúdo afinal não tem mais valor. Resposta: não como as empresas de comunicação trabalham há 150 anos! Mas ele é fundamental para o negócio. E quem pode explicar isso é o Uber. Aliás, pode indicar o caminho para qualquer empresa de serviços na nova economia.
Mas o que o Uber tem a ver com um jornal? Ou o varejo, uma escola, um profissional liberal? Acontece que, na realidade que começamos a viver, não basta ser bom no que se faz: além disso, é preciso entregar o serviço e o produto que o consumidor quiser de uma maneira que lhe faça sentido. Aí reside o novo valor, aquele que as pessoas percebem e pelo qual estão dispostas a pagar! Todo o resto é commodity.
Vídeo relacionado:
Não é um conceito simples de entender, muito menos de aceitar. Mas ele está aí, subvertendo modelos de negócios consolidados há muitas décadas! No caso do Uber, a commodity é o transporte de passageiros. O que diferencia o Uber de um taxista convencional é que o primeiro vende a sensação do prazer de solicitar um motorista, com a garantia de que virá em um carro confortável, novo e limpo, com cortesia, boa conversa e um serviço de bordo superior. Embaixo disso tudo, está o transporte do passageiro, que evidentemente é o alicerce de todo o serviço, mas que não é mais pelo que as pessoas estão pagando. É por isso (e pelos recorrentes casos de agressão a motoristas e passageiros do Uber) que os taxistas estão perdendo a preferência do consumidor: eles querem continuar concorrendo nessa camada inferior do serviço, onde o valor, o diferencial vem sendo retirado pelos seus clientes. Não há como ganhar, exceto pela criação de leis retrógradas ou pela agressão física.
Consideremos o varejo: os produtos oferecidos e a própria venda são a commodity. Já há muitos anos –e isso vem sendo agravado pelo crescimento do e-commerce– o varejo (especialmente o grande varejo) vive uma situação dramática de uma dificuldade crescente de se diferenciar da concorrência. Afinal, todos eles fazem basicamente a mesma coisa, do mesmo jeito. Então todos partem para práticas autofágicas de baixar os preços e investir pesadamente em publicidade, queimando sua margem até o limite da irresponsabilidade. São recursos legítimos, claro! Mas o problema surge quando essas são as únicas ferramentas disponíveis, por sinal igualmente para todos.
Mas vejam os casos das startups Carrinho em Casa e Rabixo. Ambos são varejistas, mas que colocam uma camada extra de serviço acima da venda dos produtos em si. Perceberam que há pessoas sem tempo de fazer suas próprias compras (ou que não gostam ou simplesmente não querem) e criaram bons negócios resolvendo esse problema. São pequenas empresas, mas o conceito também vale para corporações gigantes, como a Amazon demonstra o tempo todo.
Voltando ao caso dos veículos de comunicação, a commodity é o conteúdo, mesmo que seja um excelente conteúdo! Se você, leitor, for um jornalista, pode estar com o cabelo em pé agora. Mas acredite: não é motivo para desespero! É apenas um alerta para mudanças que são inevitavelmente necessárias.
As pessoas sempre terão a necessidade de se informar. Em tempos pré-Internet, isso exigia ler jornais, revistas ou assistir ao noticiário na TV ou no rádio. Havia ainda um consenso de que, se quisesse ficar realmente bem informado, era necessário assinar pelo menos um jornal ou uma revista. E as pessoas pagavam por isso. Entretanto faziam isso por absoluta falta de alternativa! E as empresas de comunicação cresceram com a ideia de que o que elas vendiam era informação.
Ledo engano!
Claro que o conteúdo é importante: sem ele simplesmente não existiria a empresa de comunicação. Mas pelo que as pessoas estavam realmente pagando era a edição desse material, sua organização em páginas, impressão e entrega. E os veículos prosperaram assim, enquanto eram as únicas opções disponíveis!
Mas hoje todo mundo produz conteúdo, incluindo empresas que não tem nada a ver com isso (eu ouvi Red Bull?). Há conteúdo de alta qualidade de montão na Internet, e de graça! É commodity! Isso quer dizer que fica cada vez mais difícil ganhar dinheiro vendendo conteúdo.
Mas dá para ganhar muito dinheiro GRAÇAS ao conteúdo.
É como música aos ouvidos
Assim como o transporte de passageiros para o Uber, o conteúdo é algo essencial para viabilizar um negócio, mas não é O negócio. Algumas empresas de comunicação, como Vice e Catraca Livre, já sacaram isso, e, apesar da natureza do seu produto, aprenderam a ganhar dinheiro de outras maneiras. O papel do conteúdo ali é aumentar a sua reputação e a sua popularidade, viabilizando os outros negócios, onde está o dinheiro.
Nesse sentido, o jornalismo vai muito bem! Quem vai mal são as empresas e os profissionais que continuam querendo ganhar dinheiro apenas vendendo a notícia.
O conteúdo jornalístico não é o único que passou por esse choque de realidade. Muito mais emblemático foi a derrocada da indústria fonográfica no modelo de venda de música em CDs. Venceram parcialmente a primeira batalha, a dos usuários trocando as músicas no formato MP3. Mas foram destruídos quando a Apple lançou o iTunes, que começou a vender as músicas individualmente a US$ 0,99, de uma maneira cômoda, segura e de alta qualidade. Quem continuaria comprando CDs diante disso?
A pá de cal veio com serviços como o Spotify e o Apple Music, que tornaram o iTunes obsoleto: por uma pequena assinatura mensal, dão acesso ilimitado a um acervo gigantesco, em qualquer lugar. Para o consumidor, é música aos ouvidos.
Nem todos os artistas acham isso bacana, especialmente as grandes estrelas. Argumentam que esses serviços lhes pagam apenas uma pequena fração do que eles ganhavam vendendo CDs. E isso é verdade!
Mas eles não vendem mais CDs.
A música também virou commodity. Esses serviços não vieram para substituir os discos. São um espaço de divulgação e consolidação dos artistas. Se os medalhões ganham hoje muito menos, existe a contrapartida que artistas obscuros podem conhecer a fama de uma maneira que jamais aconteceria quando as gravadoras dominavam o processo. O sistema democraticamente dividiu os ganhos entre muito mais gente. E quem é famoso deve agora ganhar dinheiro de outro jeito, por exemplo fazendo shows.
Críticas ao modelo
Muita gente acha tudo isso um absurdo!
Há muitos críticos, por exemplo, ao Uber. Eles dizem que a empresa explora os motoristas, ganhando em cima deles, que são os donos dos carros e os únicos a correr riscos (inclusive de apanhar de taxistas raivosos). Seria, portanto, o capitalismo do pior tipo.
Esses críticos deveriam conversar com esses motoristas. Uso o serviço frequentemente e sempre faço isso. Seus trabalhos anteriores variam de engenheiros a motoristas de táxi. Até hoje não encontrei um que não estivesse satisfeito com o modelo. Nenhum deles me pareceu explorado; na verdade, a sensação mais comum era de gratidão. Afinal, sem isso, estariam desempregados.
Não quero parecer Poliana. Sei que o Uber já disse que, no futuro, espera ter uma frota de carros-robôs, sem motorista. Mas isso ainda vai demorar um bom tempo, pois os tais carros ainda estão em testes preliminares. Até lá, os motoristas continuarão felizes.
Os críticos afirmam que o Uber ganha dinheiro sem risco e “sem fazer nada”. Essa é uma afirmação maniqueísta e rasa, pois a empresa atua justamente na camada do negócio onde está o real valor, como descrito mais acima. Sem isso, o que nos restaria seriam os taxistas, e os motoristas do Uber talvez estivessem desempregados.
São como Elton John, que, em 2007, propôs o fim da Internet, pois ela estaria “destruindo a indústria musical e as relações interpessoais”. Na verdade, ele reclamava porque não estava mais vendendo tantos CDs.
Gosto muito das músicas dele, mas prefiro ouvi-las no Spotify. Por outro lado, irei feliz ao seu próximo show!
Desde que eu perceba valor naquilo.
Artigos relacionados:
- A nova moda da mídia é chutar usuários “rebeldes”
- O que resta à mídia nesse ano que começa?
- O conteúdo tem que tomar seu rumo. Ou por que as bancas de jornal morreram
- Por que os jornais não aprendem logo com Star Wars?
- Globo Play não deve salvar a emissora nas novas gerações hiperconectadas
- Estamos vendo o fim da TV, pelo menos como a conhecemos
- Depois de mudar o jeito de ver TV, Netflix agora mira o cinema e até o jornalismo