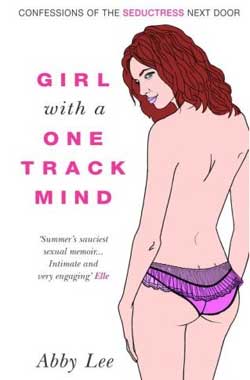Os artigos instantâneos, recurso lançado pelo Facebook na última quarta (13), podem representar uma grande oportunidade para a mídia. Entretanto muitos colegas temem que, ao adotar a novidade, os veículos de comunicação estejam abraçando o diabo.
Para quem não sabe do que se trata, a nova funcionalidade da rede de Mark Zuckerberg permite que os veículos publiquem seu conteúdo efetivamente nas suas linhas do tempo, ao invés de criar posts que remetam aos conteúdos em seus sites. Pode parecer uma sutileza tola, mas não é: a experiência do usuário com o conteúdo começa já na linha do tempo. Ao clicar no post, o conteúdo é aberto diretamente no Facebook, e não no site do veículo, de uma maneira muito mais rápida. Além disso, a plataforma oferece recursos editoriais interessantes, que podem tornar a experiência ainda mais envolvente.
Como o recurso por enquanto está disponível apenas no aplicativo do Facebook para iPhone, você pode ver como ele funciona no vídeo abaixo, do TechCrunch:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yFDT3_7e0Gs]O conteúdo publicado no novo formato não ganhará nenhuma relevância adicional, portanto a chance de aparecer no seu feed de notícias será a mesma de qualquer outro post do mesmo veículo. Em compensação, por ser mais envolvente, em tese ele será muito mais compartilhado pelos próprios usuários, aumentando consideravelmente sua audiência. Como os veículos ficarão com toda a receita dos anúncios que venderem para os artigos instantâneos (se o Facebook vender, ele fica com 30%), é uma maneira interessante de monetizar o conteúdo promovido na rede, algo de que os veículos de comunicação sempre reclamam por não ter bons resultados.
Parece bacana, não é? Então qual é o problema?
Há alguns pontos importantes a se considerar. Primeiramente, ao colocar o conteúdo efetivamente dentro do Facebook, o veículo de comunicação deve entender que o indivíduo não mais consumirá tal conteúdo em seu site ou aplicativo. Receita e audiência podem ser mantidos (e até ampliados) pelo compartilhamento de números com o Facebook, mas é um fato que o usuário estará fora do “ambiente” do veículo, o que pode limitar sua capacidade de incentivar o indivíduo a consumir mais conteúdo ou outros produtos da casa.
Outro medo é que, ao adotar as novidades, os veículos estejam alimentando um monstro que depois os engolirá. O Facebook hoje já é mais relevante na vida das pessoas que qualquer veículo de comunicação. Mas, apesar de ser um canal de distribuição formidável (para alguns grandes veículos, chega a responder por um terço de sua audiência), ele não produz nenhum conteúdo. Se começarem a publicar diretamente no Facebook, por mais que o material esteja dentro das páginas dos veículos, há um temor de que o usuário diga, cada vez mais, “vi no Facebook” ao invés de “vi no Estadão”, por exemplo. E, nesse caso, quem será o “dono” do conteúdo?
Por fim, mas não menos importante, hoje o modelo de negócios oferecido é francamente favorável aos veículos. Mas qual é a garantia que, lá na frente, quando a mídia estiver despejando toneladas de “artigos instantâneos”, o Facebook não mude as regras do jogo, tornando-o (muito) mais interessante para si? Fazendo um paralelo com jornais e revistas, é como se todos os caminhões da cidade decidissem cobrar o dobro para entregar os impressos.
Apesar de tudo isso, alguns dos principais nomes da mídia abraçaram a novidade em seu lançamento: The New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC News, The Atlantic, The Guardian, BBC News, Spiegel Online e Bild. Alguns deles, veículos com muita estrada, já têm boas iniciativas online, como The Guardian e The New York Times. E há também o BuzzFeed, digno representante da mídia nativamente digital e que já tem íntima relação com o Facebook. É muita gente boa abraçando o diabo! Será que os truques do Coisa-Ruim enganaram todos eles? Quero crer que não.
Qualquer um poderia dizer: “se o negócio ficar ruim depois, o veículo pode simplesmente abandonar o formato”. Isso é verdade. Mas talvez o Facebook já terá se transformado do jacaré atual em um tiranossauro. E pular fora de seus domínios poderia eventualmente diminuir ainda mais a relevância de qualquer veículo.
Nesse jogo de xadrez, o novo recurso foi uma jogada de mestre de Zuckerberg. Agora é a vez dos veículos jogarem. Talvez o Facebook nunca use esses “lances do mal” descrito acima. Talvez os “artigos instantâneos” não cheguem a fazer sucesso com os usuários. Quem sabe? Isso é tudo especulação afinal.
O que é certo é que os veículos batem cabeça há 20 anos na mídia digital, sem conseguir criar um modelo realmente vencedor que garanta a sua continuidade. Pelo contrário: continuamos vendo veículos, alguns centenários, fechando suas portas. E o culpado por isso não é o Facebook, o Google ou, em um sentido mais amplo, a Internet.
Os culpados são os próprios veículos, que parecem ter esquecido como ser relevantes para seu público. Estão tão preocupados com sua minguante receita publicitária, que não dão tanta importância para ele, sua razão de existir.
A maioria dos veículos que hoje agonizam nasceram nos séculos 19 e 20 para atender a comunidade onde estavam, um grupo social ou um ideal. Cresceram fieis a isso. Mas acabaram se tornando máquinas muito bem azeitadas de fazer dinheiro, que já não vinha tanto de seu público, e sim da publicidade. Não estou condenando a publicidade de forma alguma, mas isso só funcionou (e funcionou por muitas décadas) enquanto esse público não tivesse algo com o que se sentisse mais bem representado.
Isso aconteceu com o fortalecimento da mídia digital. Para desgraça dos veículos, seus concorrentes deixaram de ser os outros veículos, uma batalha que eles conheciam, para ser qualquer site ou aplicativo que lhes roube o tempo que seu antigo público lhes dedicava. Com o declínio da audiência, a publicidade arrumou as malas e os deixou.
Parte da relevância perdida pode estar no conteúdo, que muitas vezes já não atenda mais às expectativas das pessoas, e até mesmo ao alinhamento político e econômico dos veículos. Isso vem ficando cada vez mais claro nos últimos anos, com as crescentes críticas a veículos tradicionais. De todo jeito, isso é um problema editorial, que pode ser resolvido.
Mas outra parte do problema está justamente em como qualquer produto chega a seu público. O veículo pode produzir o conteúdo mais incrível e alinhado a ele, mas de nada adianta se isso não impactar as pessoas. Elas não assinam mais um monte de papel que inexoravelmente chegará a suas portas para ser consumido. Agora, cada pílula de conteúdo precisa trilhar o seu caminho até seu consumidor, de maneira individual. Se for competente, carregará o usuário para outros conteúdos da mesma marca.
Portanto, nada mais burro e anacrônico que ficar brigando com o Google, por causa de seu Google Notícias, como fazem os jornais. Isso só demonstra como eles estão descolados das pessoas, o que nos remete ao problema de relevância acima.
Os veículos têm obrigação de entregar o seu conteúdo de todas as maneiras que conseguirem, principalmente as mais criativas. Isso embute riscos enormes, como os descritos acima? Claro! Mas eles foram –e continuam sendo– absurdamente incompetentes em criar maneiras efetivas de manter seu público e conquistar novos consumidores. Insistem em transpor seus produtos tradicionais e especialmente seus modelos de negócio anacrônicos para uma nova realidade. Mas isso é impossível.
Nesse cenário, o Facebook é outra noiva com um dote gigante demais para ser ignorada. Não sei se essa moça bonita é o diabo como dizem alguns, mas os veículos devem considerar esse abraço. E torcer para isso gerar filhotinhos bonitos e saudáveis.