
Há alguns dias, vi uma reportagem que me deixou apreensivo. Tratava de um grupo conservador nos EUA cujo objetivo é criar armadilhas para jornalistas, para que sejam gravados dando depoimentos que possam lhes causar transtornos, desqualificando o profissional e seu veículo. Porém o mais perturbador é saber que essa não é uma atitude contra a imprensa isolada, nem a mais pesada, e que observo tal coisa também no Brasil. Isso me leva à pergunta do título desse artigo. Aliás, cá entre nós, o que você acha da imprensa, especialmente da “grande imprensa”?
Apesar de o Projeto Veritas, retratado na reportagem acima, afirmar que não faz política, claramente é o contrário disso, pois todas as vítimas são veículos que fazem oposição à administração Trump. Não foi esse governo que inventou essa metodologia de desacreditar os veículos contrários a ele. Na verdade, quanto mais autoritário é um governo, mais a imprensa é apresentada como uma inimiga a ser combatida, e mais as pessoas que apoiam o regime se engajam nessa cruzada contra ela. Entretanto, não se engane: no final, invariavelmente quem perde é a sociedade.
Vídeo relacionado:
Isso sempre foi assim, e provavelmente sempre será. Mas quem elevou esse processo a um novo patamar de eficiência foi Hugo Chávez, quando assumiu o poder em 1999. O finado ditador venezuelano difundiu o conceito de que a imprensa contrária a ele era, no final, contrária ao “povo venezuelano”, legitimando assim todo tipo de censura e perseguição. Essa ideia nefasta se espalhou pela América Latina, chegando agora aos EUA, com Trump.
Já viajei por vários países e pude comprovar inequivocamente como o desenvolvimento de uma sociedade está sempre relacionado de perto à qualidade de sua imprensa. Isso acontece porque uma boa mídia possui não apenas o papel de informar, mas também o de formar o cidadão. E os veículos de comunicação têm o dever de continuamente investigar o governo, para que as falcatruas não prosperem, qualquer que seja o alinhamento político da situação.
Então por que cresce esse fenômeno de agressão moral e até física contra jornalistas?
Polarização e “fake news”
Vivemos uma polarização política sem precedentes no cidadão comum. Em grande parte, isso se deve aos algoritmos de relevância das redes sociais, que insistem em nos mostrar apenas aquilo que gostamos, com que concordamos, que nos mantém em nossa zona de conforto. Pode parece muito bacana a princípio -afinal, dessa maneira, usamos cada vez mais a rede social. Só que isso pode ter um resultado perverso: como não somos expostos a posições contrárias, a tendência é que nossos preconceitos sejam cada vez mais reforçados.
Daí para a intolerância política é um pulo! Mesmo que tenhamos uma pequena inclinação para certa ideologia, podemos, em pouco tempo, nos pegar gritando palavras de ordem, insultando opositores e bloqueando antigos amigos que pensem de maneira diferente.
Nesse cenário, não há imprensa boa! Pois a função de um veículo de comunicação não é agradar ninguém. Muito pelo contrário: ele incomoda muita gente! Ou não seria jornalismo: seria relações públicas!
O mais inusitado dessa história é que vejo empresas de comunicação cada vez mais sendo atacadas por conservadores e liberais ao mesmo tempo. E o argumento é sempre que os veículos estão “vendidos” ao outro lado. Até a Rede Globo, tradicionalmente associada a alas mais conservadoras, vem sendo acusada de “ficar vermelha”.
Esse mundo está ficando muito louco!
Afinal, os veículos se vendem?
Nessa hora, é preciso diferenciar entre ter opinião e ser vendido.
Pela nossa natureza humana, não podemos ser totalmente isentos. O que não quer dizer que não possamos ou não devamos ser profissionais. E isso vale para jornalistas e veículos de comunicação. Não há nenhum problema se qualquer um deles escolher um lado, inclusive político. Na verdade, deveriam escolher e divulgar ao público sua decisão!
Entretanto adotar um lado não significa ignorar o outro. E definitivamente não significa calar ou maquiar o noticiário para que o seu lado sempre pareça melhor e o outro pior. Ter um lado significa que se torce por ele, mas que o jornalista continuará realizando seu trabalho seguindo os preceitos éticos, que incluem ouvir sempre o outro lado, e noticiar sua opinião adequadamente, por mais que a odeie.
Infelizmente temos visto muito exemplos na imprensa que parecem ter esquecido os pilares do bom jornalismo. Peguemos os exemplos abaixo, da Veja e da Carta Capital. São dois lados extremos da mesma moeda. Comparar o conteúdo de uma com o da outra dá a impressão que estão noticiando a mesma coisa em realidades alternativas.

Mas não, não estão. Estão no mesmo país, na mesma época. E nenhuma delas fala totalmente a verdade, nem totalmente a mentira. Mas, ao carregar nas tintas tão pesadamente, o público não consegue mais sequer formar uma opinião bem embasada.
Esse tipo de obra de ficção serve muito bem para alimentar os ânimos irracionais e aos interesses de grupos políticos, econômicos e ideológicos. Plantam essas informações enviesadas, que depois alimentarão a sede dos que querem fazer valer suas teses a qualquer custo em todo lugar, de redes sociais a mesas de bar. De quebra, favorecem o surgimento de grupos patéticos como o Projeto Veritas, que, para atingir seus objetivos, chegam a usar métodos que dizem combater, como notícias falsas, distorções de fatos e falsidade deliberada.
Esse constante chute na boca da verdade abriu caminho para uma das maiores pragas modernas: o “fake news”, “notícias falsas” ou “desinformação”. Não o “fake news” que Trump vive trombeteando, que são notícias verdadeiras que o desagradam. Eu me refiro a um material cuidadosamente produzido para parecer jornalístico e verídico, mas que enviesa os fatos (ou deliberadamente traz mentiras deslavadas) para fazer com que as pessoas comprem uma ideia. E -pior que isso- que a distribuam.
Como diz o ditado: se contarmos uma mentira mil vezes, ela pode virar uma verdade.
Dá um tiro na cabeça, que dói menos
O “fake news” é um perigosíssimo risco à democracia. Pois ele põe a própria imprensa em risco! Diante de tanta mentira em todas as mídias e em todas as redes sociais, as pessoas estão começando em perder a fé no noticiário. E quem pode culpá-las? Ou o conteúdo que lhes é oferecido é mentiroso mesmo, ou é verdadeiro, mas, de tão enviesado, acaba passando uma mensagem falsa.
Resultado: as pessoas estão abandonando os veículos tradicionais! E, sem público, não há anúncios. Como essas empresas também têm uma dificuldade crônica em aceitar que seu modelo de negócios histórico baseado em assinatura e publicidade não tem mais lugar no mundo, não é de se estranhar que vemos título após título morrendo! Ficam então naquele chororô ridículo, tentando jogar sua culpa em outra coisa, como o meio digital.
Ah, mas que preguiça dessa gente! Os veículos tradicionais estão com sua reputação completamente carcomida -e, por consequência, também suas finanças- porque as pessoas não são trouxas! Querem se salvar? Melhorem seu produto! E isso significa parar de praticar esse antijornalismo, mudar seu modelo de negócios e reformatar seu produto para atender às novas exigências do consumidor. Isso significar mudar basicamente tudo? Sim! Mas, já que não fizeram isso aos poucos, ao longo dos últimos 20 anos, terão que fazer agora de uma vez.
Caso contrário, veremos cada vez mais surgir esses movimentos radicais (conservadores e liberais!) apontando o dedo para a imprensa, acusando-a pelos males do país. Quando, na realidade, é a mesma imprensa que cuida (ou deveria cuidar) para que os verdadeiros males e malfeitores não prosperem na sociedade.
Sem uma imprensa livre e forte, nunca sairemos desse buraco. Mas ela tem que fazer a sua parte.
Artigos relacionados:
- O jornalismo está morto! Vida longa ao jornalismo (e ao seu negócio)!
- Se a carne é fraca, as redes sociais são fortes e a imprensa é mole
- Enganou a mídia, conquistou mulheres, ganhou dinheiro, mas era tudo mentira: como não ser vítima dos “fakes”
- Como matar um jornal –ou seu negócio– com pílulas para emagrecer
- Você está sendo manipulado… e pode estar achando isso engraçado!
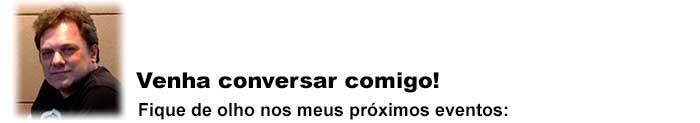
16 de dezembro: Inclusão, qualidade de vida e diversão na Melhor Idade – Conexão Melhor Idade – Workshop (3 horas)












