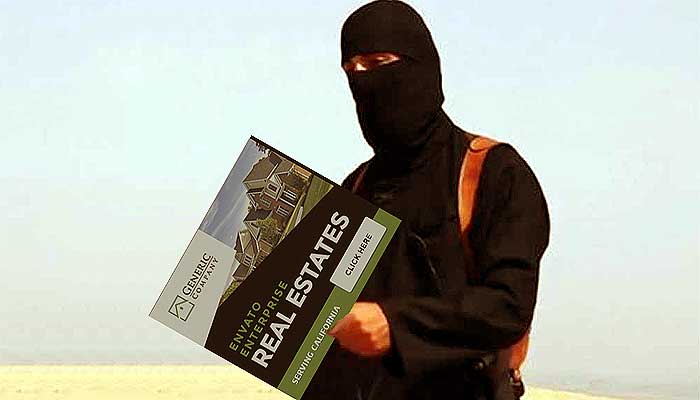Cena de “Matrix”: ao contrário do filme, a “vida online” é a nossa própria “vida real”, e isso pode ser bom!
Talvez você já tenha passado por isso: está animadamente conversando com alguém, quando, de repente, seu celular “acorda” sozinho. Na tela, o Google está esperando o seu comando de voz para pesquisar algo. Longe de ser um “bug” –afinal, você não invocou o dito cujo– isso reflete uma nova maneira de nos relacionarmos com o meio digital: mais que estarmos o tempo todo online por opção, está muito difícil nos desconectarmos, mesmo se quisermos. E isso é uma mudança maiúscula na vida de todos nós!
Eu me lembro que, lá nos primórdios da Internet comercial, em meados dos anos 1990, eu tinha um fetiche de estar online o tempo todo, pois eu achava que isso me daria uma sensação de onipresença e até de onisciência. Mas isso era impossível naquela época, pois não havia tecnologia de comunicação para tanto.
Vídeo relacionado:
Mas, de alguns anos para cá, isso é perfeitamente viável! Os principais responsáveis são nossos celulares, que carregamos o tempo todo e se tornaram computadores poderosíssimos, recheados de sensores e permanentemente pendurados na Internet.
Portanto, agora se vive um dilema contrário àquele meu desejo antigo: ficou muito difícil ficar off line, mesmo de vez em quando. Pois, além de estarmos conectados o tempo todo, estamos permanentemente produzindo –na maioria das vezes de forma involuntária e inconsciente– todo tipo de informação sobre nós mesmos. E esses dados vão direto para um número crescente de empresas, governos e instituições.
Em troca disso, recebemos uma infinidade de serviços que deixam nossas vidas mais fáceis, produtivas e divertidas. O problema é que, na prática, não temos nenhum controle do que farão com essas nossas pegadas digitais. E nem falei de cybercriminosos, que também podem estar nos monitorando.
Ficou preocupado? É melhor ir se acostumando, pois a tendência é que isso se acentue ainda mais.
Mas então não bastaria desligar o computador e deixar o celular em casa para ficarmos off line?
“Vigiados” o tempo todo
É verdade que os computadores foram a nossa primeira porta para a Internet, e os celulares nos mantêm conectados o tempo todo. Mas hoje eles estão longe de ser os únicos pontos de contato com o mundo digital. Cada vez mais, temos equipamentos a nossa volta permanentemente online e nos “monitorando”, prontos para nos fornecer todo tipo de serviço –e para coletar nossas informações.
Quer testar? Se você tiver um celular Android, experimente falar, do outro lado da sala, “Ok, Google”. Se seu celular for um iPhone, diga “E aí, Siri“. Esses comandos disparam os assistentes pessoais dos aparelhos, que ficam prontos para ouvir seus comandos por voz, quaisquer que sejam. E eles tentarão nos atender da melhor maneira possível.
Para que isso aconteça, o telefone está literalmente nos ouvindo o tempo todo. Mas o que mais ele está captando além de nossos comandos? Não estou sugerindo que Google ou Apple estejam violando a privacidade de seus clientes. Mas e quanto àqueles incontáveis aplicativos de terceiros que você instalou no celular: dá para confiar totalmente neles?
Outro aparelho presente em praticamente todos os lares vem ganhando espaço nessa arapongagem doméstica: a televisão. As smart TVs são verdadeiros computadores o tempo todo online. Muitas delas vêm equipadas com câmeras e podem ser controladas por voz. Dá até para ligar a TV falando com ela! Ou seja, assim como os smartphones, muitas das TVs também estão permanentemente nos escutando.
Portanto seria razoável perguntar o que impede que um hacker invada a sua TV e passe a ver e ouvir o que acontece na sua casa. Por isso, alguns fabricantes de TV sugerem que não façamos em frente à TV algo que possamos nos arrepender depois.
Entenda isso como quiser.
Incansáveis assistentes
O mais curioso dessa história toda é que as pessoas não veem nenhum problema nisso. Na verdade, os incríveis serviços que recebemos aparentemente fazem tudo valer a pena.
Tanto é assim que, nos EUA, a Amazon está puxando a fila de uma nova categoria de produtos: os assistentes digitais domésticos. Tratam-se de pequenos equipamentos de mesa que combinam microfone e alto falante conectados à Internet. Funcionam da mesma forma que os assistentes dos celulares, sempre prontos para ouvir nossos comandos e nos dar respostas imediatas instantaneamente.

O produto da Amazon é o Echo, um pequeno cilindro negro de 23,5 cm de altura. O Google também já lançou o seu, o Home, ainda mais discreto: apenas 14 cm. Nenhum dos dois ainda é vendido no Brasil, mas funcionam se trazidos para cá.
Já há muitos outros aparelhos que se conectam à Internet para expandir seus recursos, como geladeiras e até carros! A tendência é que todos passem a ter funções controladas por voz, e coletem algum tipo de informação sobre os usuários. Possivelmente chegará a hora em que a nossa mobília estará online para nos brindar com algum recurso adicional!
Há ainda os “dispositivos vestíveis”, os “wearables”, normalmente lembrados pelos relógios smart e óculos de realidade aumentada. Mas eles vão muito além disso, como uma nova pulseira que mede, sem necessidade de coleta de sangue, o nível de glicose de diabéticos, ou um tênis que ajuda atletas a corrigir suas passadas. Tudo integrado com aplicativos no celular e, portanto, com dados prontos para serem compartilhados.
Isso é o que os analistas chamam de “terceira onda digital”, ou “era pós-digital”: um mundo em que a tecnologia está tão presente e tão integrada ao nosso cotidiano, que nos beneficiamos dela o tempo todo, sem mesmo nos darmos conta da sua existência.
Então não tem volta?
Simbiose digital
Quando penso que alimentamos uma enorme quantidade de sistemas de diferentes empresas com nossas informações, garantindo-lhes gordos lucros e troca de serviços, eu me lembro do filme Matrix (1999), das irmãs Wachowski. Mas felizmente a nossa realidade é muito menos terrível: nada de uma máquina que escraviza a humanidade, reduzindo-a a meros fornecedores de energia, em troca de uma ilusória “vida normal”.
Mas essa nossa vida online cada vez mais ubíqua se tornou, de fato, a nossa vida. Não existe mais separação da “vida presencial”. Na verdade, entendo que nunca houve isso, pois as duas são apenas diferentes representações de nossa única vida real.
A diferença é que agora estamos integrados, imersos, vinculados com o ciberespaço. Toda essa integração funciona como extensões do nosso próprio ser, dando-nos “poderes” que efetivamente expandem nossos limites.
Portanto, esse é um caminho que não tem volta. Conceitos de privacidade precisam ser revistos, diante da nossa tolerância o compartilhamento de nossa vida. Assim, não há solução para esse “problema”, pelo simples fato de que não há problema afinal. Então, se você é daqueles que tenta resistir a tudo isso, receio que sua tarefa ficará cada vez mais difícil.
Precisamos apenas ser conscientes dessa nossa realidade, para não passarmos por trouxas. Tudo isso pode mesmo ser muito legal e útil! Mas, da próxima vez que assistir à TV, lembre-se que talvez ela também esteja assistindo a você.
E daí curta a programação numa boa!
Artigos relacionados:
- Sua privacidade já era: acostume-se a isso!
- Você está sendo manipulado… e pode estar achando isso engraçado!
- O que acontecerá quando o supermercado lhe entregar a compra que você NÃO fez?
- Exibicionismo nas redes sociais: por que as pessoas se expõem online
- A reputação digital pode promover ou arruinar sua carreira e seu negócio: saiba como conquistá-la
- Na China, dedurar o vizinho pode virar um bizarro game da vida real