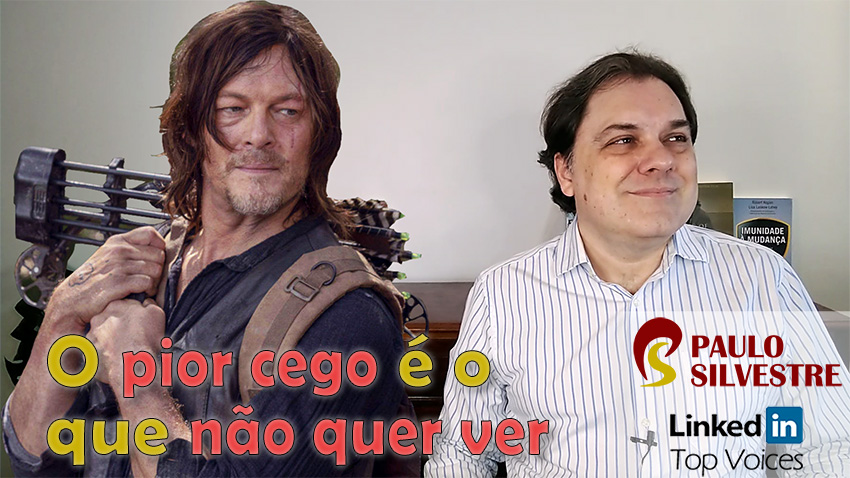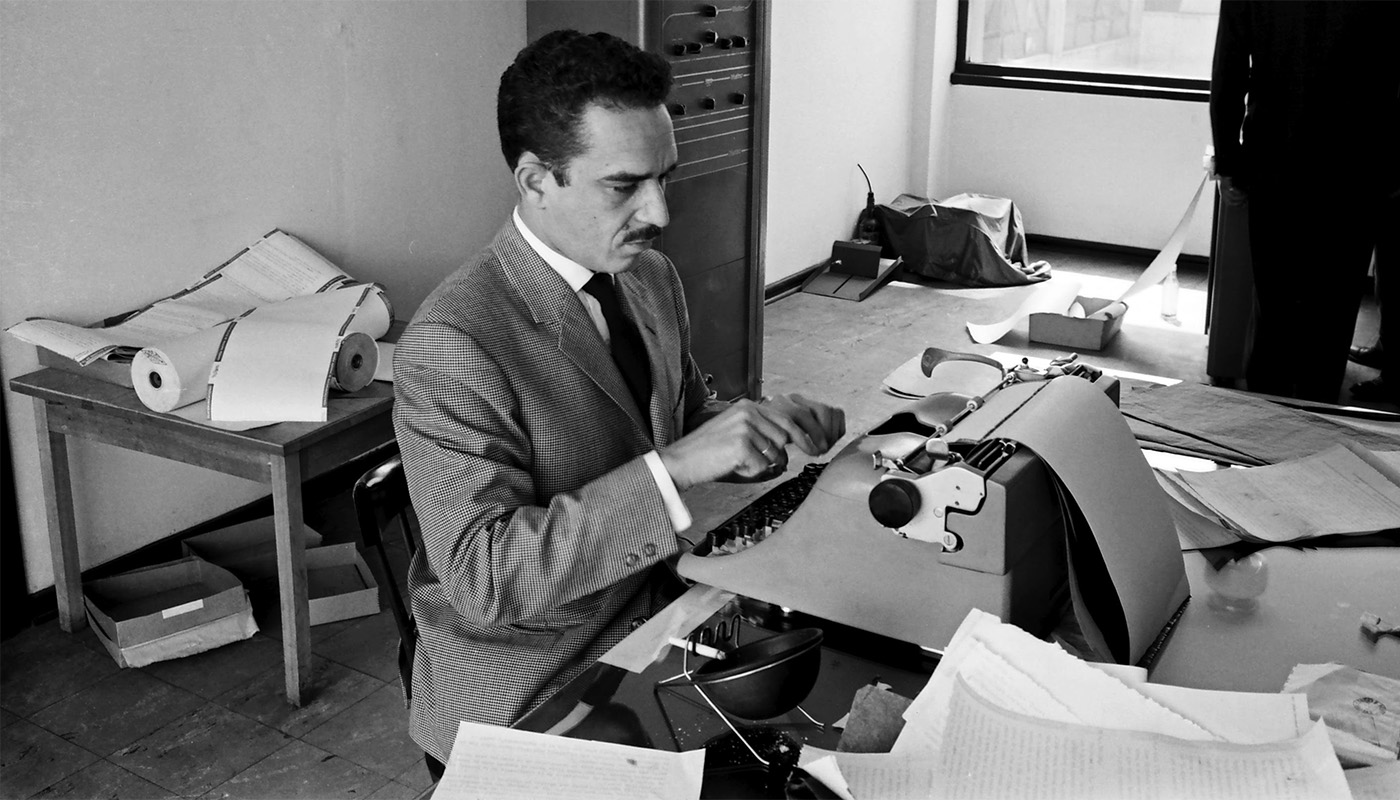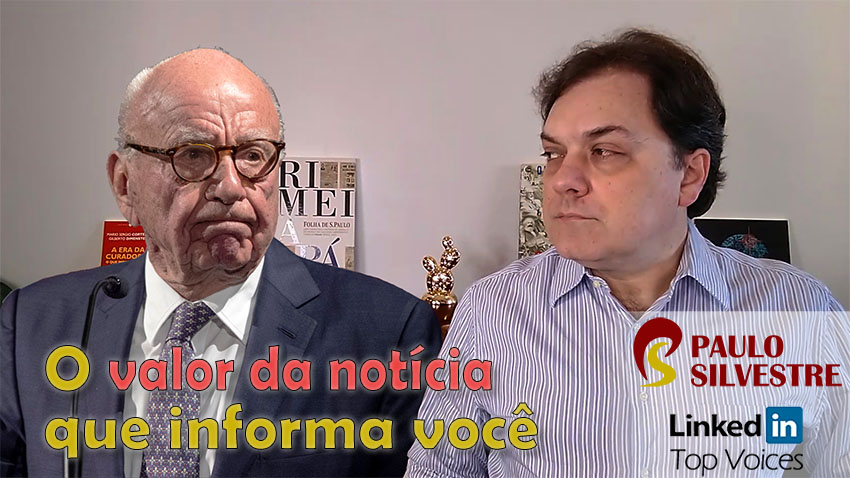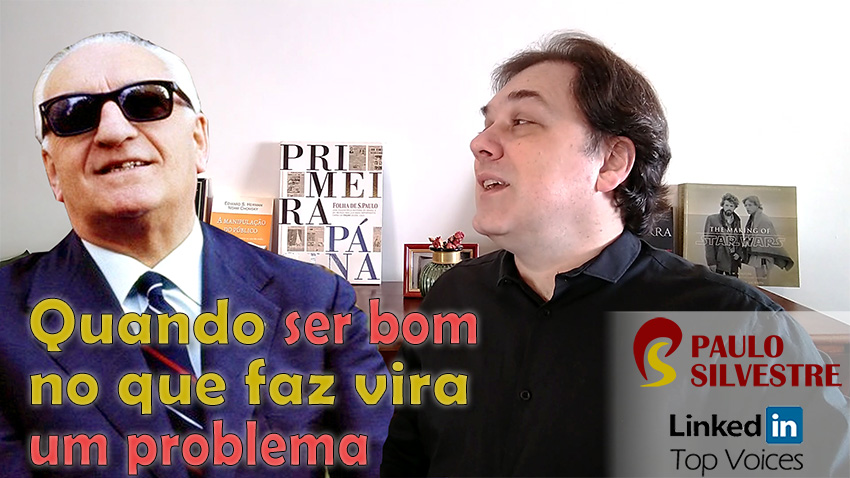O rapper americano Kevin Ford, mais conhecido como Bandman Kevo, reúne 20 mil assinantes que pagam US$ 50 por mês pelo seu conteúdo online. Ele não fala sobre música, mas sobre investimentos, o que chega a ser inusitado. Mas o que torna a história mais curiosa é que seus vídeos estão no OnlyFans, famoso por hospedar conteúdo adulto explícito de seus usuários.
Por que tanta gente paga para ouvir um músico falando de dinheiro em uma plataforma de pornografia? A resposta: porque isso faz sentido para essas pessoas! E isso é a cara da cultura de criação de conteúdo em que vivemos.
Hoje qualquer um pode fazer publicações para alavancar o seu negócio ou até fazer disso o próprio negócio! Mas esse oceano de posts, cuja maioria tem qualidade no máximo questionável, dilui o valor da informação. Para piorar, as plataformas digitais destacam o que é ruim (mas popular), jogando para escanteio quem faz um bom trabalho.
Veja esse artigo em vídeo:
Os fãs de Ford afirmam que o conteúdo de seu canal no OnlyFans é valioso, ajudando-os a ganhar dinheiro. De fato, não é fácil fazer alguém pagar US$ 50 por mês para ouvir dicas de investimentos, especialmente para pessoas mais jovens, que compõem a maioria do público do rapper. Se fazem isso, algo que consideram valioso deve estar sendo entregue a elas.
Vale notar que o Ford não tem formação acadêmica na área. Na verdade, ele falsificou seu certificado do equivalente ao Ensino Médio. Em 2014, quando tinha 24 anos, foi preso por fraudes com cartões de crédito que passaram de US$ 600 mil. Quando foi solto, em 2019, decidiu aliar sua carreira musical com a de palestrante motivacional e guru online.
Deu certo!
Os puristas podem torcer o nariz para seu sucesso. Mas o rapper fez uma leitura correta de conteúdo, linguagem e recursos digitais, criando um produto consistente para um público específico. Até a escolha do OnlyFans demonstra ousadia. Por isso, seus ganhos estão muito além dos auferidos pela imensa maioria dos economistas, que fazem seu trabalho da maneira como aprenderam nas faculdades. E, por isso, não conseguem se diferenciar um do outro.
- Assine gratuitamente minha newsletter sobre experiência do cliente, mídia cultura e transformação digital
- Inscreva-se no meu podcast (escolha a plataforma): Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Soundcloud
Ford surfa em um fenômeno derivado da chamada “economia criativa”, em que o valor econômico vem de ações criativas, culturais e intelectuais. Quem atua no setor sabe as necessidades dos consumidores, onde eles estão, o que eles pensam e suas características. Por isso, agradar o cliente é uma busca constante, promovendo mudanças permanentes no produto, que geram benefícios reconhecidos pela sociedade.
Apesar de as origens da economia criativa remontarem à década de 1980, ela floresceu com o poder que a tecnologia digital concedeu às pessoas, facilitando e barateando enormemente a criação de novos produtos. Com as redes sociais, isso atingiu um patamar incrível, permitindo que produtos intelectuais rentáveis fossem criados praticamente sem investimento. É o caso do canal de Ford no OnlyFans.
Graças a essa facilidade, a produção de conteúdo de qualquer natureza se tornou o trabalho de muita gente. Com a pandemia e o distanciamento social que ela provocou, a prática se tornou essencial para muitos profissionais e muitas empresas continuarem operando no momento de restrições mais severas. Após o fim do distanciamento, essa prática se perpetuou.
Infelizmente a esmagadora maioria desses produtores não tem os elementos necessários para criar um bom produto. Tampouco possui a capacidade de Ford, de fazer uma leitura assertiva do mercado, para entregar algo que atenda a demandas específicas. O resultado é muito ruído, que acaba “escondendo” dos usuários conteúdos que realmente poderiam lhes ser úteis.
Sensacionalismo
Há um outro aspecto importante a ser considerado nessa cacofonia informacional. Grandes empresas de comunicação competem hoje com ilustres desconhecidos pela atenção do público nas plataformas digitais. Aprecem mais aqueles que entendem as regras de promoção dessas plataformas, criando conteúdos que atraem não só as pessoas, mas também seus algoritmos.
Como resultado, no Brasil e no mundo, sites sensacionalistas ou que promovem explicitamente a desinformação chegam a superar em audiência veículos de comunicação sérios. Isso gera um preocupante círculo vicioso: como as pessoas clicam muito em títulos escandalosamente apelativos, eles são muito promovidos pelo Google e pelo Facebook, o que faz com que mais pessoas ainda cliquem neles. Chega-se a um ponto em que esses sites inundam as plataformas digitais, enquanto o jornalismo sério fica praticamente escondido.
Isso enche os cofres desses sites com conteúdo no mínimo questionável, enquanto esvazia os dos veículos que investem tempo e dinheiro na produção de bom conteúdo. E as mesmas plataformas digitais que despejam hordas de usuários nos sites apelativos são as mesmas que lhes remuneram pela alta audiência, pois seus anúncios acabam sendo veiculados ali.
O assunto ganhou destaque no Brasil nos últimos dias, com as discussões em torno do projeto de lei 2.630, conhecido como “lei das fake news”, que tramita na Câmara dos Deputados. Ele determina que as plataformas digitais remunerem empresas jornalísticas, em uma tentativa de incentivar quem produz conteúdo de qualidade para fazer frente à desinformação.
Entretanto, o texto, na forma atual, falha ao definir, de maneira clara, o que seria conteúdo jornalístico. Por isso, os sites de fofocas, os sensacionalistas e até alguns que escandalosamente copiam conteúdos alheios sem sequer dar crédito ao autor que investiu tempo e dinheiro na apuração poderão, em tese, ser classificados como “jornalísticos” e, dessa forma, serem remunerados pelas plataformas digitais.
Quem faz conteúdo sério –sejam empresas de comunicação, sejam profissionais autônomos– podem aprender algo com Ford: é preciso entregar um produto em que o público veja valor. Em um mundo em que a realidade se tornou um constante espetáculo, quem trabalha com jornalismo tem aí uma tarefa ingrata, pois dispõe “apenas” da verdade para trabalhar, e ela nem sempre é sedutora. Por outro lado, os sensacionalistas e os que vivem de “fake news” podem distorcer os fatos alegremente, para que se tornem mais atraentes para as pessoas.
Mas há esperança. The New York Times, um dos jornais mais tradicionais e importantes do mundo, com 171 anos de estrada, acaba de atingir a impressionante marca de 10 milhões de assinantes, somando impresso e digital, algo inédito. A empresa esperava atingir essa marca apenas em 2025, mas ela chegou antes em parte graças à aquisição de publicações de segmentos específicos e diversos serviços, inclusive jogos online. Talvez muitos assinem The New York Times por causa desses “agregados”, mas a alta qualidade de tudo que a empresa oferece e esse modelo de negócios moderno abrem espaço para um futuro promissor, enquanto a maioria de seus concorrentes se debate para continuar respirando.
Lição para a vida de todo mundo: não adianta querer continuar fazendo algo de um jeito só porque sempre deu certo assim anteriormente. Como muitos dizem na indústria de mídia, “o conteúdo é rei”, mas não mais como eles pensam. No atual momento da economia criativa, ele tem um valor inestimável como um produto em si ou para atrair pessoas para outros negócios da empresa. Mas só trará resultados se estiver alinhado a necessidades reais do público, e não ao desejo de seus editores.
Fazer alguém colocar a mão no bolso para comprar nosso produto nunca foi tão complicado, pois hoje tudo concorre com tudo. E o bolso do consumidor é um só.