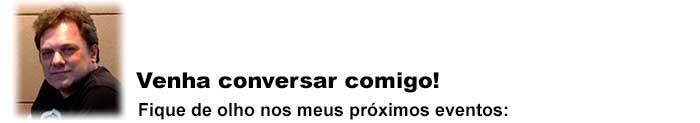A Orquestra Sinfônica Heliópolis no Theatro Municipal de São Paulo: celulares na plateia e hashtags sobre o palco
Na semana passada, tive um “click” enquanto assistia à Orquestra Sinfônica Heliópolis, no Theatro Municipal de São Paulo. Observe a foto acima, que tirei ao final da apresentação: celulares nas mãos do público e hashtags projetadas sobre o palco. Mais que “modinhas”, isso representa uma estratégia para se aproximar do público. Achei incrível! Não porque seja algo revolucionário, mas constatei (uma vez mais) que mesmo instituições consideradas “conservadoras” podem tirar grande proveito dos recursos digitais. Enquanto isso, muitas empresas e profissionais “progressistas” patinam nesse quesito, sendo aos poucos colocados fora do mercado.
Como podem ainda perder boas oportunidades, 24 anos após a liberação da Internet comercial no Brasil e uma década após a revolução do iPhone colocar um smartphone na mão de todos?
Vídeo relacionado:
O interessante do caso no Municipal é que demonstra como é possível introduzir os recursos digitais de maneira criativa, sem necessariamente provocar mudanças profundas no próprio negócio e respeitando os movimentos de seus clientes. Assim que as luzes se apagaram, ouvimos aquela tradicional gravação, dizendo que celulares deveriam ser desligados, e que era proibido filmar e fotografar o espetáculo.
 Mas, antes de começar, o maestro Edilson Ventureli falou à plateia que aquele concerto estaria sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e que o “bis” seria escolhido ao longo da apresentação em uma votação online. Mais que isso: nessa hora, todos estavam convidados a sacar seus celulares e fotografar e filmar a obra. O regente sugeriu até que as pessoas fizessem “lives” no Facebook. Alguns músicos estavam, eles próprios, fazendo suas transmissões ao vivo, como pode ser visto na foto a seguir (observe o celular gravando ao lado da partitura).
Mas, antes de começar, o maestro Edilson Ventureli falou à plateia que aquele concerto estaria sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e que o “bis” seria escolhido ao longo da apresentação em uma votação online. Mais que isso: nessa hora, todos estavam convidados a sacar seus celulares e fotografar e filmar a obra. O regente sugeriu até que as pessoas fizessem “lives” no Facebook. Alguns músicos estavam, eles próprios, fazendo suas transmissões ao vivo, como pode ser visto na foto a seguir (observe o celular gravando ao lado da partitura).
Você pode argumentar: isso acontece há anos em shows de rock! Pode ser, mas aquilo não era um show de rock: era uma apresentação no Municipal, uma instituição inaugurada em 1911 para atender aos anseios culturais da elite paulista, e que mudou muito pouco nesses 107 anos. Por isso, iniciativas como essa de usar o digital para ampliar seu público merecem aplausos de pé!
Assista à íntegra do concerto (1h20’):
Orquestra Digital transmite Orquestra Sinfônica de Heliópolis, parceria Escola Concept e apoio Vivo.É assim que a Catraca Livre facilta seu acesso à cultura.
Posted by Catraca Livre on Sunday, August 5, 2018
Eu, que saí todo feliz dali, tive que amargar, no dia seguinte, uma notícia ruim vinda de alguém que usa mal os meios digitais.
Uma árvore já quase sem folhas
A Editora Abril já foi a maior editora de revistas do país e sonho de gerações de jornalistas, que almejavam trabalhar em algum de suas centenas de títulos. Mas a companhia nunca se adaptou às mudanças de seu público, que há pelo menos uma década rejeita o modelo de negócios baseado em assinatura e publicidade, as suas duas formas básicas de receita editorial. Como resultado, a empresa vem em queda livre, encerrando títulos e demitindo profissionais em ondas. A mais recente aconteceu na segunda passada, quando encerrou dez títulos e demitiu cerca de 500 pessoas.
Como uma empresa como a Abril, com o poder político, cultural e econômico que já teve, pôde chegar assim, ao fundo do poço? Será que as pessoas não consomem mais jornalismo? Será que elas não pagam por conteúdo? Será que elas não leem mais?
É exatamente o contrário de tudo isso!
Nunca lemos e consumimos tanto conteúdo (inclusive pago). E o jornalismo continua valendo muito! Mas a Abril se descolou do seu público. Insistem com um modelo que funcionou brilhantemente até a virada do século, mas que não encontra mais espaço na mente e no coração de ninguém.
Portanto, quem está matando a Abril e tantos outras empresas de comunicação não é a tecnologia: é seu público, que não vê mais valor no que fazem, ou pelo menos na maneira como fazem! E aí correm para consumir esse produto de outras empresas, mais modernas, que entendem o poder que o digital dá às pessoas, e assim ganham mercado.
Não adianta ficar espezinhando contra o novo!
A mudança sempre chega
A nossa própria percepção da realidade depende inerentemente de nos comunicarmos, e consequentemente da linguagem. Só que os meios digitais estão alterando profundamente a maneira como nos comunicamos, e a própria linguagem. Basta observar crianças e adolescentes, que desenvolvem ricas formas de comunicação verbal e não-verbal, às vezes impenetráveis para as gerações anteriores. E eles estão certos!
A tecnologia altera, portanto, como interagimos com o mundo. Como uma empresa ou um profissional pode, então, esperar ter sucesso sem se adaptar a esses inevitáveis e muito bem-vindos movimentos? Agarrar-se a fórmulas consagradas é o primeiro passo para enterrar um negócio bem-sucedido. As mudanças (tecnológicas ou não), não devem ser vistas como ameaças, e sim como oportunidades.
Talvez alguns, nesse ponto, estejam torcendo o nariz e dizendo que “tudo isso é lindo, mas não serve para mim”.
Bem, já que acabei de falar de “enterrar”, gostaria então de mencionar o caso do Jardim da Ressureição, um cemitério localizado em Teresina, no Piauí, que praticamente redefiniu como um o segmento deve ser comunicado. Com 160 mil seguidores em sua fan page no Facebook (a maioria de outras cidades), a empresa conseguiu destacar sua marca nas redes sociais e buscadores usando bem os recursos das plataformas e tratando a morte com bom humor. Resultado prático: aumento de 40% em suas vendas.
É um cemitério! Quem vai dizer agora que os mios digitais não servem para seu negócio?
Tecnologia e humanidade
As tecnologias digitais criam, sem dúvida, inúmeras portas para quem tiver a mente aberta. Por mais que sejam feitos grandes investimentos em redes sociais, publicidade online, machine learning, sistemas automatizado e tantas outras novidades, no final sempre chegamos ao ser humano.
O uso da tecnologia por si só, automações inconsequentes, adoção de modismos tecnológicos podem encher os olhos do pessoal de TI, mas isso tudo só funcionará se servir para aproximar as pessoas que estão dentro das empresas (seus funcionários) das pessoas que estão fora delas (seu público). Qualquer coisa diferente disso, é como dar um carro a alguém que não sabe dirigir.
Portanto, profissionais e companhias precisam abraçar o meio digital, claro. Entretanto, mais importante que isso, precisam aprender a ler as mudanças vividas pela humanidade e a tirar proveito delas de uma maneira criativa e ética, em que todos ganhem. É aí que reside a verdadeira inovação.
Sejamos, então, mais como o Theatro Municipal de São Paulo e menos como a Editora Abril.
E aí? Vamos participar do debate? Role até o fim da página e deixe seu comentário.
Essa troca é fundamental para a sociedade.
Artigos relacionados:
- Garanta seu trabalho transformando sua humanidade em um “produto”
- Você força a barra pelos seus interesses comerciais?/a>
- A inovação pode ser inimiga da produtividade?/a>
- Você está pronto para compartilhar suas informações bancárias por aí?/a>
- Vivemos na época da criação coletiva das ideias (e é bom você aprender isso, não interessa o que faça)/a>

- 28 de agosto: Renove-se! (São Paulo) – palestra “O uso eficiente de redes sociais por profissionais com mais de 50 anos”
- 1 de setembro: LinkedIn: Muito Além do Óbvio (turma 2 de Belo Horizonte) – workshop
- 11 de setembro: SAP Forum Brasil (São Paulo) – palestra “O que muda no relacionamento entre empresas inteligentes e seu público na adoção de soluções modernas de Customer Experience”
- 13 de setembro: Social Media Week São Paulo – palestra “Construa uma boa reputação digital a partir de seu propósito”