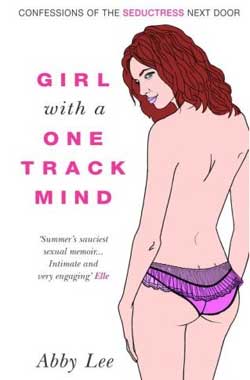Para Gilmar Mendes, "o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada"
“Você é a favor do diploma de jornalista?” Essa pergunta já me foi feita um sem-número de vezes, portanto a minha resposta é algo amadurecido ao longo de 15 anos de estrada. Sou jornalista formado pela Metodista, mas fiz o curso depois de já estar na profissão há muitos anos. Entrei na Folha quando estava no segundo ano do curso… de Engenharia. Ainda assim, decidi fazer também o curso de Jornalismo e cheguei a dar aula na mesma Metodista.
Por esse histórico profissional -digamos- “pouco ortodoxo”, a minha resposta não é simples. Não sou contra o diploma de jornalista, mas não posso ser a favor. Explico. Entendo que a exigência de um diploma para uma profissão se justifica quando o curso que o concede oferece conhecimento que realmente faça diferença para o desempenho da profissão. Infelizmente não é o caso das faculdades de Jornalismo brasileiras. Mesmo as mais renomadas transmitem um conhecimento raso, desperdiçando precioso tempo de sua grade horária com informações técnicas que poderiam ser rapidamente aprendidas pelo profissional quando ele chegasse ao mercado. O preço disso é falta de espaço para disciplinas que realmente fariam a diferença ao estudante, fortalecendo seu senso crítico e ética. Falta capricho em ensinar mais e melhor aos estudantes coisas como geopolítica, história, crítica de mídia, ética. Falta dar ao aluno a chance de ver o mundo com olhos mais abertos, justamente o que caracteriza um bom jornalista.
Nesse cenário, o recém-formado sai com o diploma embaixo do braço e batendo no peito que ele -e apenas ele- pode exercer a profissão. Ou pelo menos saía, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 8 votos a 1, que o diploma não é mais exigência para exercer da profissão. Os argumentos dos juízes são diferentes dos meus, focando em questões técnicas jurídicas, especialmente contrapondo o decreto-lei dos militares que institui a obrigatoriedade com a Constituição de 1988.
Meu objetivo aqui não é entrar no mérito desses argumentos, mesmo porque concordo com quase tudo que eles usaram. Por outro lado, não concordo com o dito pelas entidades que estavam a favor ou contra o diploma, pois acho que eram radicais ou simplórios. Minha opinião se baseia mesmo na formação do jornalista, deficiente, inútil na maior parte de suas disciplinas. Diante disso, o diploma acabava se transformando em um escudo usado por maus profissionais formados -e eles andam cada vez piores- contra outras pessoas muito mais bem preparadas para fazer jornalismo de qualidade, mas escandalosamente classificadas como “charlatãs” pelos órgãos de classe jornalísticos. Os coleguinhas que me perdoem, mas charlatões são os incompetentes que povoam as nossas redações, que levantam o nariz e batem palminhas quando o editor lhes acena com um peixe cru e que, para ganhar essa guloseima, cometem verdadeiras atrocidades profissionais.
Assim, não sou contra o diploma de jornalista, mas não posso ser a favor, pois não concordo com a maneira como os cursos são conduzidos no país. Quando eles pelo menos se aproximarem do que se vê em faculdades de Jornalismo como na Universidade de Columbia (EUA) ou de Navarra (Espanha), então serei a favor dos cursos e do diploma. Mas falta, falta muito para isso. Pena.
E um último comentário: depois da decisão do STF, uma colega veio comentar comigo o temor de que as redações agora passariam a contratar mais “não-jornalistas” que jornalistas formados. Discordei dela, pois a decisão do STF não muda muito o que já acontece na prática. Quem queria ser jornalista já exercia a profissão no Brasil de um jeito ou de outro, mas nem todos querem ou conseguem fazer isso. Não é uma profissão fácil, não é um ofício simples, são poucas as pessoas que aguentam a pressão de um fechamento. Ou, como escreveu Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura e jornalista (não formado), “ninguém que não tenha nascido para isso e esteja disposto a viver só para isso poderia persistir em um ofício tão incompreensível e voraz, cuja obra acaba depois de cada notícia, como se fosse para sempre, mas que não concede um instante de paz enquanto não volte a começar com mais ardor que nunca no minuto seguinte.”