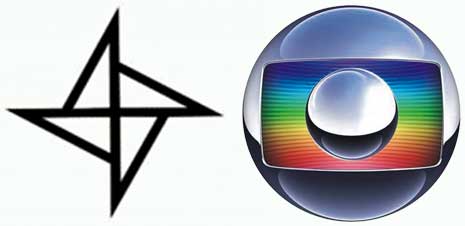Os profissionais dos diferentes veículos das Organizações Globo estão proibidos de colocar links nas fan pages dos próprios veículos no Facebook. Continuam fazendo chamadas, mas nada de link, apenas frases toscas como “Leia a reportagem no site de ÉPOCA”. O G1 radicalizou: usa uma imagem padrão agrupando indiscriminadamente seus títulos, três a três, sem qualquer outra preocupação: uma “antichamada”.
Chega a ser patético o apelo para que os usuários entrem no site do veículo e saia procurando pelo conteúdo que quer ler, uma tentativa medíocre e desesperada de aumentar a audiência valendo-se de um desserviço ao próprio usuário. A iniciativa só não é mais ridícula que a falta de raciocínio que levou a ela: para os executivos da Globo, o Facebook “rouba” audiência de seus portais, assim como agregadores ou leitores de RSS. Segundo essa visão com miopia beirando a cegueira, usuários estariam se “satisfazendo” com as chamadas criadas pelos próprios jornalistas e as três primeiras linhas do texto que o Facebook automaticamente replica na chamada.
Se isso fosse verdade, tiraria algumas conclusões. A primeira seria que o conteúdo de todos os produtos da Globo seria uma porcaria tão rasteira, que ninguém se interessaria em ler nada além daquelas poucas palavras na chamada. Também poderia concluir que os responsáveis pelas fan pages seriam tão incompetentes que nada que eles produzissem convenceria os usuários a visitar suas páginas.
Felizmente não é nada disso: os conteúdos da Globo normalmente são bons, e os únicos incompetentes nessa história são os que propuseram essa iniciativa lamentável. Esse é apenas o mais recente capítulo da briga entre a mídia tradicional, que, apesar de ainda ser capaz de produzir bom jornalismo, tem uma visão de negócios cada vez mais decadente. Diante de sua constatação de ser incapaz de controlar o futuro, tente impedir sua chegada, parando de dar corda no próprio relógio.
Por que o Facebook incomoda tanto esses arautos do ostracismo? Porque ele, assim como o Google, agregadores e outros produtos e serviços que ditam as tendências de distribuir conteúdo de uma maneira inteligente e pensando no usuário, diminui ainda mais a relevância das home pages de portais e sites desses veículos. Até havia alguns anos, quando eles ainda detinham o poder sobre a produção e distribuição do conteúdo jornalístico, a melhor maneira de se informar era entrando nessas home pages. Com elas, as empresas promoviam o conteúdo que consideravam pertinentes e dirigiam os usuários dentro de sua estrutura de navegação. De quebra, geravam dezenas de milhões de page views nesse processo, o que significa dinheiro extra entrando no caixa. E até hoje elas ainda representam uma porcentagem muito considerável no total de page views desses sites. Portanto, para eles, qualquer coisa que ameace essa vaca leiteira deve ser combatido.
Mas o mundo mudou. Desde que “o Facebook se tornou o jornal e seus amigos os editores”, as home pages deixaram de ser importantes. Para as pessoas, é muito mais interessante ler o que seus amigos estão promovendo que as escolhas feitas pelos editores. Por isso, atitudes retrógradas como essa adotada pela Globo só demonstram como os executivos das empresas de mídia estão descolados do mundo que seus veículos cobrem. Não reverterão em nada a linha descendente de sua audiência e ainda desestimularão as pessoas a dar links para seus conteúdos.
Ao invés de continuar combatendo o futuro, os executivos das empresas de mídia precisam aprender a tirar proveito do que ele tem a oferecer, incluindo aí o Facebook, o Google, os agregadores e tantas outras coisas que eles insistem em demonizar. Não é “dar de graça” seu trabalho, e sim apresentá-lo da maneira que seus clientes querem, para assim continuarem sendo seus clientes.
Ah, normalmente eu daria links para fan pages de veículos da Globo. Mas não farei isso.